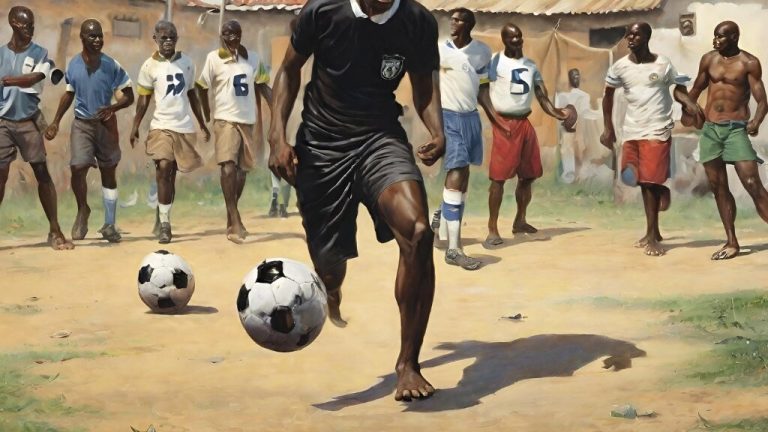Quando Douglas Germano nasceu, em 29 de novembro de 1968, faltavam menos de quinze dias para o regime militar implementar o AI-5, decreto que suprimiu liberdades individuais, oficializou a tortura e inaugurou o período mais sombrio da ditadura no Brasil. Meses antes, nesse mesmo ano, deu-se o primeiro desfile oficial das escolas de samba de São Paulo (os desfiles aconteciam nos bairros desde a década de 1930, mas pela primeira vez passaram a contar com o apoio da prefeitura). A grande campeã foi a Nenê de Vila Matilde, que acabara de se tornar a primeira escola paulistana a ter uma quadra coberta. O samba-enredo apresentado na avenida São João, Vendaval Maravilhoso, homenageava o poeta Castro Alves.
Douglas não veria o tricampeonato de sua escola de samba, campeã também em 1969 e 1970. Ainda era pequeno demais para compreender o Carnaval. Mas a Nenê de Vila Matilde estará presente na memória mais antiga que ele guarda dos tempos de criança. Nascido e criado na rua Grécia, 360, na antiga várzea do rio Pinheiros, Douglas manteve durante anos um ritual secreto na véspera do Ano-novo: assim que os ponteiros do relógio marcavam a meia-noite e o céu se incendiava com os fogos de artifício, o menino corria para os fundos da casa, onde havia uma horta. Lá se punha de joelhos e rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria para que a Nenê fosse campeã naquele ano. Os adultos, entretidos com o champanhe, não notavam a sua falta. “O que se passava na cabeça desse garoto?”, pergunta, como quem se vê de fora.
A resposta está subentendida: o menino tinha cabeça de artista. Hoje, aos 51 anos de idade e trinta de carreira, Douglas Germano é o compositor paulistano mais importante da década que se encerra. No ano passado, a Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) classificou Escumalha, seu terceiro disco solo, entre os melhores de 2019. O álbum foi tema de incontáveis críticas, resenhas e reportagens na imprensa escrita e falada do eixo Rio-São Paulo. Foi seu trabalho mais comentado até o momento e o que mais suscitou debates sobre o conceito da obra.
O disco é dividido em dois momentos: a primeira parte é dedicada a escrachar e apontar o dedo na cara do Brasil oficial, que “marginaliza, achaca, vilipendia, nega direitos, exclui e mata as populações mais pobres”. O destaque é Valhacouto, sua primeira parceria com o letrista Aldir Blanc, endereçada aos nazifascistas que, de tempos em tempos, ressuscitam as ditaduras (“Foi na Alemanha que a escumalha fez armas virarem lei/ Em vales de lama onde a canalha roubava vidas sem talvez”). A segunda parte se dedica a reverenciar o Brasil real, onde vive o povaréu, ou seja, a “escumalha e toda a sua nobreza”. Estão ali o “chapa” — peça frágil e indefesa no sistema de transporte do país —, a liderança feminina de bairro, a linguagem popular, a casa habitada pelas pessoas mais simples, decoradas com objetos plenos de memória afetiva. Nas palavras do próprio autor, “uma ode ao Brasil do povo brasileiro”.
Segundo o dicionário, escumalha é a “escória social, gente de baixa estirpe, ralé”. Douglas Germano aprofunda a explicação sobre o termo em entrevista à Roberta Martinelli no programa Cultura Livre, da TV Cultura: “São os invisíveis, os que moram da ponte pra lá, longe das grandes metrópoles. A vida está fervendo nos lugares mais afastados e o Brasil oficial não presta atenção, embora a escumalha seja a grande massa do povo brasileiro”. E exemplifica: “Uma gente apartada da internet, que ainda se informa pelo radinho de pilha, que socializa na fila do SUS e que está privada do saneamento básico”. Ao mesmo tempo, segundo ele, é dessa parcela da sociedade, historicamente jogada à própria sorte, que sai “o que a gente tem de mais belo e sofisticado”.
Douglas Germano já foi citado pela crítica musical de mil maneiras. Chamaram-no de compositor “vanguardista”, que “agrega novas concepções musicais à tradição” e “dá continuidade à linha evolutiva da MPB”. Jargões, nada além de jargões. Douglas é exatamente o compositor popular que diz ser: um trabalhador como qualquer outro, cujo ofício não é mais ou menos digno e importante do que o ofício de um sapateiro ou de um metalúrgico. “Quem deveria estar me ouvindo não está”, disse no ano passado à revista Bravo. E isso não significa que sua música seja inacessível, mas que a “escumalha”, com a qual convive diariamente, está alijada do acesso à própria arte que produz ou inspira. “Me identifico com os esquecidos, mas não teorizo nada. Para mim não existe sequer a canção popular. O que existe é o artista. É o cara solitário com seu violão. Este sou eu”.
Há quem insista em comparar o violão “neurótico” de Douglas Germano ao de João Bosco, desconsiderando que o elo de aproximação entre ambos não está no violão, mas na base percussiva. E que Paulinho da Viola está mais presente do que parece em seu trabalho autoral. “Foi ouvindo Paulinho que percebi que o samba poderia ir muito mais longe do que eu pensava”, afirma. O disco Zumbido, lançado por Paulinho da Viola em 1979, é citado por Douglas como um divisor de águas em sua educação musical. “Ele abriu meus ouvidos e minha mente para infinitas possibilidades”.
A influência de Paulinho pode ser percebida em seus discos anteriores, ainda que de modo sutil. Em Ori, lançado em 2011 (apenas em formato digital), nem tanto; mas em Golpe de Vista, de 2016, a influência se insinua nos arranjos e na opção por uma instrumentação diminuta, composta por violão, cavaquinho e caixinha de fósforos. Que ninguém espere, porém, ouvir na combinação a mesma sonoridade presente nos discos do Paulinho da Viola, ou de sambistas afeitos ao samba sincopado (que costumam se valer da caixa de fósforos em suas gravações), como era o caso de Elton Medeiros. A formação pode ser idêntica, mas os andamentos levam a marca pessoal de Douglas Germano e vão um pouco mais à frente.
Nem todas as influências podem ser percebidas nas opções estéticas. Ao longo de doze anos, Douglas compôs trilha sonora com música original para nove peças de teatro — o que colaborou para a facilidade com que encontra soluções musicais simples, sem que soem óbvias. “Quando compunha para teatro, minha música era conduzida pela intenção do texto. Era preciso compreender o universo de Shakespeare, Sófocles, Plínio Marcos. A música tem de estar subordinada à letra e não o contrário. Minhas harmonias são simples. Se eu quisesse mostrar como sou foda faria música instrumental”.
“A cultura mais sofisticada que temos é feita por gente muito simples”
Mas para entender Douglas Germano não há outro caminho que não seja o que leva à escola de samba. Ele próprio admite que sua música seria outra se não houvesse a experiência de ter integrado a bateria da Nenê de Vila Matilde: “Tenho uma bateria particular dentro da cabeça. Quando vou compor é isso o que escuto em primeiro lugar e parto quase sempre desse ponto”.
Resultado da longa vivência nas fileiras de uma das agremiações mais importantes do carnaval de São Paulo, a cabeça de Douglas começou a ser feita no início da década de 1980 por Armando da Mangueira, compositor da pesada, exímio tocador de frigideira e puxador de sambas-enredo da Nenê, além de atuar como crooner no conjunto Acadêmicos da Guanabara, do qual José Germano, pai de Douglas, fazia parte. Ainda menino, chegou a vê-los tocar em casas de show já extintas, como Urso Branco, Piratininga e Sandália de Prata. “Mas o bicho pegava mesmo era nos bailes de carnaval”, diz.
Foi por influência da esférica figura de Armando da Mangueira — “um tipo brincalhão que devia pesar uns setecentos quilos” — que o menino quis participar pela primeira vez de um ensaio na quadra. “Certo dia me levou a um ensaio da Nenê, junto com meu pai. Na hora em que a bateria começou a tocar, que eu vi a porta-bandeira e o mestre-sala dançando, que eu vi aquela bandeira azul e branca, com aquela águia bordada, fiquei completamente transtornado. Nunca havia sentido uma emoção tão forte em minha vida, nunca havia ouvido um som que me abalasse tanto”, conta.
Do primeiro ensaio ao primeiro desfile foi um pulo: em 1982, já na adolescência, saiu pela primeira vez com a escola, após passar na peneira supervisionada pelo Mestre Divino — que aos 71 anos é considerado por Douglas como “o maior de todos os mestres de bateria”. Filho de uma pernambucana de Olinda e de um baiano de Salvador, Valdevino Batista da Silva nasceu e foi criado em ambiente carnavalesco. Dono de mais de 40 prêmios, ensinou a tocar muitos dos principais comandantes de bateria das escolas paulistanas.
Ser admitido em uma bateria de escola de samba não é fácil. A “prova de admissão” é rápida, objetiva e sem direito a chororô. Geralmente funciona assim: o mestre de bateria pergunta que instrumento a pessoa quer tocar. No caso de Douglas, o repinique. Com o instrumento em mãos, o pleiteante é colocado no meio dos outros batuqueiros e tem alguns minutos para mostrar a que veio, tocando junto aos demais. O mestre se afasta, escuta de longe, apurando o ouvido para identificar se alguém está fora do ritmo. Depois se aproxima, colado às costas do novato, para ver se ele consegue se manter na linha sem atrasar ou acelerar o samba. Apesar da tensão inicial, Douglas Germano mandou bem e foi aprovado.
“Eu já conhecia o samba da Nenê daquele ano. Além disso, estava acostumado a tocar um repinique improvisado na sala de casa. Punha para girar na vitrola os elepês do meu pai (Martinho da Vila, Beth Carvalho, Clara Nunes, Roberto Ribeiro, Agepê, Benito Di Paula, etc.), encaixava um tamborim entre os joelhos e, com uma faca de ponta redonda no lugar da baqueta, passava horas tocando junto com o disco, fazendo os breques”, recorda.
O ingresso na bateria coincidiu com a época em que começou a trabalhar, por volta dos 14 anos. Seu primeiro emprego, com carteira assinada, foi o de faxineiro numa loja de material de construção. A admissão como batuqueiro de uma grande escola e o salário pingando na conta resultaram em relativa autonomia: o rapaz passou a poder sair de casa com anuência dos pais para participar dos ensaios. Desfilar com a escola pela primeira vez foi como “estar dentro de um sonho”. O enredo era Palmares, Raízes da Liberdade. O samba era assinado por Jangada e Armando da Mangueira. E o refrão ainda está preso na garganta de Douglas Germano, junto com o grito de vitória, que não veio por muito pouco:
“Olha o tombo
É samba de conga e tem dendê
Chegou novo Quilombo
E o seu nome é Nenê”
“Depois do meu filho, nada chega perto do amor que sinto pela Nenê de Vila Matilde”, conta. “É a única coisa que me faz chorar. Quando a escola entra na avenida, choro de soluçar. Esteja eu na bateria, na arquibancada ou diante da TV, no sofá de casa. Vejo a Nenê e começo a chorar”, diz o compositor.
Curiosamente, em sua discografia, não consta uma homenagem sequer à escola do coração, como é comum à obra de compositores ligados a alguma escola de samba. A explicação é simples e convincente: “Tenho muita dificuldade de compor coisas que me pegam intimamente no campo emocional. Parece que nenhuma palavra é suficiente para traduzir meu sentimento. Fiz um samba para a Nenê de Vila Matilde em 2001, quando ela foi campeã do grupo especial, mas é uma composição tão modesta perto da minha paixão que não a considero uma homenagem à altura”, diz.
Douglas Germano se define como um “homem de esquerda”, mas não poupa críticas a setores da intelligentsia nacional que tratam elementos cruciais à formação cultural do povo brasileiro, dentre eles o Carnaval, como “eventos alienantes” (no passado diziam “ópio do povo”). Quando se depara com argumentos elitistas na boca de gente da esquerda, sua posição é muito firme: “Essa ideia só pode partir de quem não sabe o que está dizendo”. Sua consciência política foi adquirida mais na rua do que nos livros.
“A cultura mais sofisticada que temos é feita por gente muito simples. Um desfile de carnaval é fruto de trabalho árduo, sofrido, suado, motivado tão somente pela vontade de beleza dessa gente. Eu poderia estar varrendo uma loja de material de construção até hoje, se não fosse a escola de samba. Foi ela quem levantou a minha autoestima e me deu uma identidade coletiva sob o peso da bandeira de uma instituição que congrega milhares de pessoas. Ela me forneceu informações potentes sobre a história do Brasil através dos seus sambas-enredo, me deu sólida formação musical e noções básicas de responsabilidade e hierarquia”, declara o compositor.
Há alguns anos afastado da escola, Douglas afirma que nunca deixou de acompanhar os desfiles e de sofrer com eles, como se ainda estivesse lá, com seu repinique, rompendo a avenida no meio da bateria de bambas. “A esquerda que não entende ou despreza essa potência diz muito sobre a dificuldade que temos tido de enfrentar o horror da direita fascista que está no poder. Até hoje, as manifestações mais potentes que tivemos contra Bolsonaro se deram no Carnaval, tanto nas escolas quanto nos blocos”, afirma.
“O meu país é meu lugar de fala”
Não existe glamour na vida de um compositor. Douglas Germano faz questão de deixar isso claro e lamenta que comentaristas de música ainda vejam no processo de composição uma “experiência quase mística” ou se refiram às canções como “frutos de uma inspiração transcendental”. Sua rotina diária inclui acordar cedo, preparar o café (combustível para o trabalho) e sentar à mesa para ler, estudar, pesquisar, lapidar um texto, burilar uma melodia. “Se não fizer isso todos os dias, não acontece nada”.

O que significa a inspiração para o compositor? “Nada mais do que observação. É ter olhos treinados para observar uma cena e a partir dela desenvolver um tema. O lugar onde moro é rico em personagens e situações que dão bons motes para um samba. Mas daí a transformar isso em samba é outra coisa, exige disciplina. É preciso saber como desenvolver uma história, como contá-la, com que linguagem, com que ritmo, com que harmonia. Compor é trabalho”, explica.
Depois de ter morado em vários bairros de São Paulo (entre eles Bixiga, Santa Cecília e Vila Madalena), fincou residência “da ponte para lá”, num município de pouco mais de 120 mil habitantes na região do Grande ABC. Cravado na Mata Atlântica, Ribeirão Pires tem seu clima influenciado pela umidade do mar, não muito distante de seus limites geográficos. É um lugar de casinhas tombadas, em que as crianças brincam na rua e os velhos jogam dominó na praça. Ali Douglas se refugiou com a mulher, a cantora Tânia Viana, e o filho Guilherme, fruto de um relacionamento anterior. “Sair do sufoco da Capital era um desejo antigo que consegui concretizar após o nascimento do meu filho”, conta.
A mudança para uma cidade menor, cujo ritmo parece estar em sintonia com o seu modo de ver o mundo, coincide com o aumento de sua produção musical e com a dedicação exclusiva ao ofício de artista. “As pessoas são diferentes em Ribeirão Pires. Aqui a socialização não se dá dentro do shopping”, afirma. Há menos obrigações e mais tempo livre para a contemplação e a criação. Além disso, como o município está ao lado da capital paulista, Douglas continua se deslocando quase que semanalmente para lá, onde mantém sua agenda de shows e participa de gravações em estúdio.
Ele concorda que a “desaceleração” da vida passou a exercer crescente influência sobre seu trabalho: “Me identifico com o ritmo da cidade porque fui criado assim. Perto da minha casa tem uma benzedeira. Faço as minhas compras na feira e jogo bola num time de várzea formado por professores, policiais e até um vereador. A preocupação com o consumo é uma coisa bem mais distante da nossa realidade. Não existe um bairro nobre e nem diferenças sociais muito gritantes. Isso pra mim é uma vida brasileira digna”.
Embora tenha tido sua primeira música gravada no longínquo ano de 1991 (o samba Vida Alheia, pelo grupo Fundo de Quintal, quando ainda assinava como Cuca, seu apelido de infância), Douglas Germano era, até pouco tempo atrás, um quase anônimo para o grande público. Ele refuta. Não gosta de ser visto como uma “novidade” no meio musical — o que de fato não é. Contudo, sua música de maior êxito popular até então havia sido Lama, defendida em 2005 por Adriana Moreira no Festival “A Nova Música do Brasil”, realizado e transmitido pela TV Cultura.
O ponto de inflexão na carreira talvez possa ser atribuído à gravação de Maria da Vila Matilde por Elza Soares, no disco A Mulher do Fim do Mundo, em 2015. O próprio compositor considera que este é um marco em sua trajetória, pela visibilidade nacional que rendeu ao seu nome: com esta canção, Douglas ganhou o Prêmio Multishow de música do ano e foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor música em língua portuguesa.
Elza Soares, com 85 anos na época da gravação, deu à música uma interpretação carregada de simbolismo: ela própria vítima de violência doméstica no passado, imortalizou o verso (“você vai se arrepender se levantar a mão pra mim”) que seria apropriado por milhares de mulheres brasileiras e se tornaria uma espécie de “bordão feminista”, como já foi dito por aí. Douglas nega que esta tenha sido a sua intenção. “Eu havia feito a música para minha amiga Paula Sanches gravar, mas acabou não dando certo. Através de terceiros o áudio chegou até a produção da Elza e, algum tempo depois, ela me procurou. Foi uma surpresa”, conta o compositor.
Frases de Maria da Vila Matilde passaram a ser vistas em cartazes em manifestações feministas e apareceram pichadas nos muros de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador, mas também em cidades menores e tão distantes entre si, como Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e Sobral, no Ceará. A história por trás da letra esconde um drama familiar vivido por Douglas quando criança: “Meu pai batia na minha mãe. Era um homem muito ciumento e a agredia com frequência. Lembro-me dela com os braços cheios de hematomas. Por vergonha ou medo, ela quase não saía de casa. Nós, os filhos, éramos orientados a não falar sobre isso com ninguém”, recorda.
Sua história se revelou universal e o autor perdeu o controle sobre a criação: a música passou a ser cantada em passeatas e protestos, sobretudo no período que antecede o Golpe de Estado de 2016 e culmina na eleição de Jair Bolsonaro, em 2018. Em última instância, a autoria da música passou a ser atribuída a Elza Soares. “Não será a primeira vez. Esse tipo de coisa é muito comum no Brasil”, diz ele sobre a relativa falta de reconhecimento em relação a autoria. No entanto, garante não se importar e alega que certas canções adquirem “vida própria”.
Uma situação curiosa acabou inspirando composição que questiona o radicalismo das pautas identitárias: após descer do palco onde se apresentava, numa casa de shows em São Paulo, Douglas Germano foi interpelado por uma garota. Ela o criticava por ter cantado Maria de Vila Matilde. Para ela, o artista deveria “respeitar o lugar de fala das mulheres” e não mais cantar aquela música, uma vez que Elza Soares já havia “falado por todas elas”. A moça nem sabia que estava diante do autor dos versos de que tanto gostava. “Não tenho problema em concordar com você”, respondeu Douglas, “mas essa música é minha e fiz para a minha mãe”.
Do episódio nasceram os versos (“mil nações moldaram minha cara/ minha voz uso pra dizer o que se cala/ o meu país é meu lugar de fala”) presentes na canção O Que Se Cala, também gravada por Elza Soares, em 2018. “Reconheço a legitimidade das reivindicações de gênero, mas a grande luta que precisamos travar ainda é a luta de classes. Se seguirmos à risca o comportamento de discurso das pautas identitárias, acabaremos cada qual no seu quadrado, brigando individualmente — o que para a direita vem bem a calhar”, defende o compositor.
“Se corto o braço, sai sangue; se pego o violão, sai samba”
Douglas nunca almejou se apresentar em público, dar entrevistas ou manter uma agenda regular de shows. No entanto, apesar de ser gravado por intérpretes como Elza Soares, Carlinhos Vergueiro, Fabiana Cozza, Criolo e Adriana Moreira, nunca conseguiu viver exclusivamente de direitos autorais (sonho de todo compositor). Sua transformação em artista de palco se deu mais por necessidade do que por vocação ou desejo. “Não dá para viver de direito autoral no Brasil. Então tive que ir para o palco cantar minhas músicas e vender meus discos. É assim que consigo capitalizar minimamente a minha sobrevivência”, revela.
Faz questão de frisar que começou a compor por causa da roda de samba. Mas não de qualquer roda. Foi nas rodas de partido-alto que tudo se deu. O Bar da Tia Beth, na Barra Funda, era um dos lugares onde havia encontro de partideiros. Seu Zezinho do Banjo era presença garantida por lá. No Botequim do Camisa Verde era possível topar com o grande Talismã ou com Murilão da Boca do Mato. “Tomei muita paulada de nego véio, mas conseguia me defender no verso. O lance do improviso, de criar uma resposta na hora, em quadra, foi me dando o traquejo da articulação, da métrica”, explica Douglas Germano.
O partido-alto, na definição do escritor, compositor e pesquisador das culturas da diáspora africana Nei Lopes, seria uma modalidade de cantoria onde predomina “a arte de criar versos, em geral de improviso, e cantá-los sobre uma linha melódica já existente”. Essa modalidade de cantoria se distingue das outras justamente porque se realiza e ganha sentido na roda de samba, “sempre de forma bem-humorada e brincalhona”. A partir da década de 1960, o neologismo “partideiro” passa a ser utilizado para diferenciar o “versador” do mero sambista.
A sua competência e saber intuitivo para improvisar em verso, muitas vezes em duelo com um oponente, sem deixar de seguir a melodia e sem perder o ritmo, fariam do partideiro um “sambista maior”. Ainda conforme Nei Lopes, autor de vários partidos antológicos gravados em disco, o partido-alto sempre foi visto como “um samba de estatuto superior, apanágio dos sambistas não só mais inspirados como mentalmente mais ágeis”.
É a combinação explosiva de escola de samba com roda de partido-alto que forja o compositor Douglas Germano. Não é o suficiente, porém, para que ele se considere “sambista”. Para o compositor, trata-se de um rótulo que vem de fora. “De onde eu vim, nunca ninguém se considerou sambista. E, no entanto, todo mundo fazia samba”. Seguindo esta linha de raciocínio, Douglas diz acreditar que o conceito do “ser sambista” existe para “cristalizar o samba” e mantê-lo preso à fórmulas antigas. “Seu Nenê nunca se disse sambista”, afirma, em referência ao fundador e ex-presidente da Nenê de Vila Matilde, falecido em 2010.
Ele gosta de citar uma recordação envolvendo Seu Nenê, o “Cacique”, que era como chamavam Alberto Alves da Silva na escola: “Me lembro das vezes em que o vi entrando na quadra com aquele andar cadenciado, as pernas bem arcadas e um chapeuzinho na cabeça. Cumprimentava um, cumprimentava outro. De repente parava diante da bateria. Ficava ali um tempo, escutando em silêncio, olhar perdido no vazio. Logo ia até um batuqueiro qualquer, pegava a baqueta, mostrava como é que se devia bater no instrumento, e ficava ao lado da pessoa até ela aprender. Esta cena me impressionou muito. Você identificar, num grupo de sessenta ritmistas, aquele que não está tocando direito, é ter muita propriedade sobre o que se faz. Ele não precisava dizer que era sambista. O samba era parte de sua cultura, estava entranhado nele”.
Não espere que Douglas Germano seja aquela figura de terno branco e sapato bicolor, que a indústria cultural transformou no estereótipo do sambista “autêntico”. Farda só no carnaval. No palco ou nas rodas, Douglas prefere tênis confortáveis e boné para proteger a cobertura. “Não se trata de negar o samba, mas de compreender que ele pode ir além. O sambista não sei se irá, mas o samba sim. Não preciso me rotular. Se corto o braço, sai sangue. Se pego o violão, sai samba”, diz.
“O Brasil de Bolsonaro cheira à morte”
Da última vez em que estivemos juntos, em uma apresentação sua no Espaço Núcleo Cupinzeiro, em Campinas, falamos rapidamente sobre a situação do país. Em tempos em que a ditadura ameaça, artistas engajados como Douglas Germano acabam sendo cobrados para que se posicionem politicamente. Não foi diferente com os artistas que viveram a ditadura de 1964 a 1985. “O Brasil de Bolsonaro cheira à morte. Não inspira nada, só nojo e raiva. Eu não vou sair fazendo música contra isso. Não vou porque esse governo é tão indigno que a minha arte ficaria datada muito rápido”, afirma.
Ao mesmo tempo, Douglas não se furta a pensar e a compor sobre o seu (nosso) tempo. Em Damião, que foi gravada por Juçara Marçal, o mote é o assassinato de um rapaz chamado Damião Xavier, ocorrido dentro de um hospital psiquiátrico no interior do Ceará, em 1999. Na letra, feita em parceria com Everaldo F. Silva, é como se o morto voltasse à vida para se vingar dos algozes (“Dá neles, Damião/ Mira no meio da cara/ Dá com pé, com pau, com vara/ Bate até virar a cara da nação”). O caso rendeu a primeira condenação do Brasil na Corte Internacional de Direitos Humanos.
“Meu trabalho é engajado sim. Tem lado. Os personagens das minhas canções têm lado. Mas não coloco a cabeça de ninguém na guilhotina. Quem quiser fazer música de entretenimento, que faça”, diz. Em Golpe de Vista, faixa que abre o álbum homônimo, apresenta suas credenciais ao ouvinte de primeira viagem (“Meu samba não é de lamento/ É muito mais de atormentar”). Em Cansaço cutuca a anestesia geral ante das mazelas sociais (“Tanta solidão/ Tanta servidão/ E a gente cada dia mais feliz”). Em Falha Humana denuncia as precárias condições de trabalho dos operários da construção civil (“Pino era de aço e no meio rachou/ O andaime despenca/ Zé também desmontou/ O doutor leu o laudo/ E lá foi constatado:/José, o culpado da situação”).
Douglas Germano tem poucos parceiros musicais. Dois se destacam: o já citado Everaldo F. Silva, com quem organizava o projeto Mutirão do Samba no fim da década de 1990, é um deles. O outro é Kiko Dinucci, com quem formou o Bando Afromacarrônico de 2004 a 2008. Juntos gravaram em 2009 o experimental CD Duo Moviola — trabalho que iria orientar desde então os rumos individuais da dupla. Apesar de preservar sua marca nas canções feitas em parceria, Douglas diz preferir compor sozinho. “Desenvolvi uma maneira própria de fazer música, uma maneira de amarrar música e letra que não dá para dividir com ninguém. Percebi que meu trabalho só seria interessante se tivesse uma personalidade própria”.
A solidão voluntária como potência criativa é um traço marcante de vários artistas. Em Douglas ela é evidente. Mas que não se veja na exaltação da individualidade qualquer tendência ao egoísmo, muito menos à futilidade do estrelismo. Para Douglas Germano ela é a mola propulsora que o conecta ao sentimento coletivo, sem abrir mão do contato humano. Douglas é um artista que pode ser encontrado na feira, na várzea, na arquibancada, na escola de samba, na missa, no candomblé, no botequim, no ponto de ônibus, na greve dos trabalhadores. E é justamente a experiência real junto à “escumalha” que o autoriza a falar em seu nome. Assim como Seu Nenê nunca precisou se dizer sambista para sê-lo, Douglas Germano não precisa se assumir como um “homem do povo”, pois é isso o que ele é.
Em tempos desencantados, em que a última coisa que a gente espera é encontrar alguém com esperança no futuro do país, as palavras do compositor são como placas luminosas a indicarem o melhor caminho a seguir. “O Brasil é uma nação muito jovem, talhada para ser espoliada, mas com uma capacidade de transformação extraordinária. Temos um povo que sempre se reinventa. Não acredito no discurso de que o brasileiro não tem memória, que não se rebela. Isso é capitular diante do inimigo. Nós sempre resistimos ao longo da história e sairemos dessa”.
De onde vem tanta certeza?
“A certeza vem da observação do Brasil real. Em qualquer estação de trem, às quatro e meia da manhã, há uma quantidade absurda de gente indo para o trabalho. E se você estiver na estação, às onze e meia da noite, verá essa mesma gente voltando do curso ou da faculdade. É uma potência que precisa de pouco para se desenvolver. O povão só precisa de oportunidades. É aqui que quero ficar e criar meu filho. Quero contribuir com o meu país por meio da minha música. No Brasil oficial não acredito, mas essa gente que habita o Brasil real me dá a certeza de que um dia seremos o país que merecemos ser”.
[rev_slider alias=”livros”][/rev_slider]