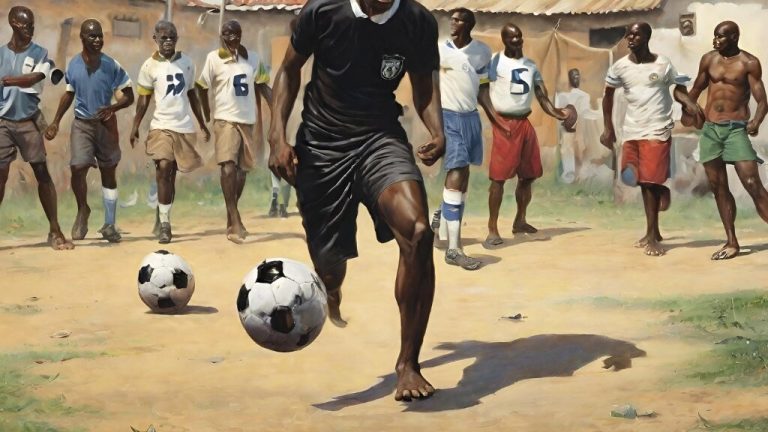Era uma casa verde, habitada por sete mulheres pretas, num bairro de brancos. Um sobrado antigo na Rua Afonso Celso, nº 1.324, na Vila Mariana, em São Paulo. Tinha muros baixos, duas cercas de madeira e um jardim de margaridas. Nas laterais havia longo e estreito corredor que levava ao quintal — onde despontavam uma roseira, um limoeiro e um pé de pitanga. Nesse quintal idílico, em 1976, encontraremos a menina Adriana Aguiar Moreira, no auge dos seus seis anos de idade, brincando e correndo livre junto às irmãs.
Sua brincadeira preferida era promover campeonatos de dança e de canto. Ela era quem se sobressaía. As outras mulheres da casa — sua mãe, duas tias e uma prima mais velha — não davam muita bola aos dotes artísticos da garota. Não que não se importassem com ela, mas apenas passavam a maior parte do tempo entretidas com os afazeres da casa e os assuntos do mundo adulto, sempre tão cheio de problemas.
O primeiro a prestar atenção no interesse da garota pela música foi o avô de Adriana, o professor e jornalista Jayme de Aguiar, único homem e provedor da casa. Ficou viúvo muito cedo e trouxe as irmãs — Maria e Matilde — para morar com ele. Enquanto trabalhava fora, as mulheres cuidavam das tarefas práticas do lar e ajudavam a criar a pequena Lucíola, filha de Jayme, que viria ser a mãe de Adriana.
Aos 50 anos recém-completados, Adriana Moreira descreve o avô da seguinte forma: “Ele tinha alma de poeta. Era um preto retinto, muito culto e asseado, que cheirava à loção pós-barba. Nunca o vi sem camisa ou com a roupa amarrotada, estava sempre de terno e gravatinha borboleta. Foi quem me disse pela primeira vez que eu deveria cantar”.
Em sua memória ainda cintila aquela manhã em que o avô a surpreendeu no quintal cantando Fuzuê, de Romildo e Toninho, que Clara Nunes acabara de gravar no elepê Canto das Três Raças. “Esta foi, talvez, a primeira música que aprendi a cantar. Ninguém me ensinou, devo ter ouvido muitas vezes em casa. Minha mãe gostava da Clara e passava o dia com o radinho ligado”, recorda.
Ela se lembra ainda que Jayme de Aguiar, após descobrir o talento da neta, passou a pedir constantemente que ela cantasse. “Meu avô chegava em casa para o almoço por volta do meio-dia e me chamava para cantar algo. Muitas vezes quis que fosse Fuzuê. Ouvia atento, corrigia a minha afinação, e depois me dava um bombom Sonho de Valsa“, conta.
Um ano antes de sua morte, ocorrida em 1977, o velho disse à Adriana que, um dia, ela iria gravar Fuzuê. A menina ficou com aquilo na cabeça. A previsão de Jayme se concretizaria, anos mais tarde, quando a cantora incluiu a faixa em seu segundo disco de carreira.
“Foi uma forma de homenagear meu avô, mas também de reconhecimento à uma das canções que despertaram em mim o desejo de cantar profissionalmente”, diz ela. Em sua gravação, contida no álbum Cordão (lançado em 2014 pela gravadora Pôr do Som), o arranjo remete ao registro original de Clara Nunes. Na voz de Adriana Moreira, a letra se reafirma como um canto de liberdade.
“Berimbau batia
Cabaça gemia
Moeda corria
Eu queria pular
Ah! Ah!
Eu queria pular
Ah! Ah!
Escrevi meu nome num fio de arame
E quem quer que me chame
Vai ter que gritar
Ê camará! Ê camará!
Ê fuzuê!
Parede de barro
Não vai me prender
Ê fuzuê!
Parede de barro
Não vai me prender”
Nascida em São Paulo no dia 5 de março de 1970, Adriana Moreira é uma importante intérprete paulistana, principalmente do samba. Completou vinte anos de carreira em 2018, no ápice do amadurecimento profissional. A comemoração pelas duas décadas de palco se deu no dia 9 de julho daquele ano, com um show entre amigos no Espaço O170 — que contou com a participação de Toinho Melodia e Tereza Gama, entre outros nomes do samba paulista.
O evento comemorativo representou, simbolicamente, o fim de um ciclo e início de outro, em que a cantora encerra a agenda de shows de Cordão e passa a trabalhar na escolha do repertório de seu terceiro álbum, Roda, cujo lançamento está (ou estava) previsto para o segundo semestre de 2020.
Roda deveria estar agora em processo de gravação, mas um acontecimento imprevisto, mundial e de grandes proporções, adiou os planos de Adriana: a eclosão da pandemia de coronavírus, que tem deixado um rastro de mortes por onde passa (no momento em que esta reportagem foi concluída o Brasil registrava, pouco mais de um mês após a chegada do vírus, mais de mil mortos e 20 mil infectados).
A cantora estava prestes a entrar em estúdio quando o Brasil, a exemplo de vários países, paralisou parte de suas atividades na tentativa de conter o avanço da Covid-19 (doença causada por um novo vírus que nunca havia sido identificado em humanos). Seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde, o governador de São Paulo, João Doria, determinou o fechamento de todos os serviços não essenciais — incluindo a maioria dos comércios — e restringiu a circulação de pessoas nas ruas por meio do isolamento social. As aulas foram canceladas em todas as escolas e universidades do estado e até o campeonato paulista de futebol foi interrompido. É grande a incerteza sobre o que acontecerá ao país nos próximos dias, semanas e meses.
Em meio a esse turbilhão, Adriana Moreira teve de cancelar ensaios e shows agendados. A produção do CD foi suspensa por tempo indeterminado. Responsável pela concepção de todos os detalhes de suas obras — da escolha do repertório à arte final do encarte —, a cantora costuma associar cada disco a uma fase da vida. “Roda é a consolidação da minha história no samba. O trabalho da experiência. É o mundo girando à mercê das circunstâncias e eu dentro dele, fazendo da minha voz uma espiral de protestos e denúncias. Neste disco, coloco-me no centro da roda para cantar as emoções, nem sempre positivas, suscitadas pela roda-gigante dos nossos dias”, explicou, em conversa que tivemos antes da pandemia, como quem soubesse o que estava por vir.
Quando Roda começa a ser pensado, há dois anos, a sociedade brasileira está mergulhada numa das piores crises políticas de sua história. Para piorar, a chegada do coronavírus ao Brasil traz no bojo uma crise econômica e social que já mostra sua face mais cruel. Adriana Moreira, como artista, não está imune aos seus efeitos: cantar para o público é o ofício que responde pela maior parte de seu rendimento mensal. Sem trabalhar, a sua situação financeira e a de seus amigos e parceiros do meio musical, dentre os quais seus dois filhos — Raphael e Pedro, que são instrumentistas — ficará comprometida.
Diante da maior crise da história da indústria da música ao vivo no país, profissionais da área divulgaram uma carta aberta ao governo federal com sugestões de medidas a serem tomadas para mitigar o déficit econômico causado pelo encerramento das atividades. As medidas sugeridas vão do lançamento de editais para projetos em formato online à suspensão de cobranças de dívidas, passando pela anistia das contas de água, luz e aluguel. As reivindicações foram ignoradas.
No fim de março, porém, o Senado aprovou um projeto que estabelece o pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais) para quem não tem carteira assinada, incluindo autônomos. Trabalhadores da música teriam direito a esse valor irrisório. Mas Adriana confia na volta à normalidade. Em sua projeção mais otimista, Roda começará a ser gravado no segundo semestre e, antes da virada do ano, teremos a oportunidade de ouvir composições que traduzem o espírito do tempo atual. Será um trabalho em que músicas inéditas suplantam as regravações.
Compositores contemporâneos, nascidos ou radicados em São Paulo, como Rodrigo Campos, Kiko Dinucci, Roberto Didio e Maurinho de Jesus, darão o tom da obra. Onze Fitas, de Fátima Guedes; Deixa Eu Dizer, de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza; e Roda, de Gilberto Gil, que dá nome ao disco, serão as únicas faixas regravadas. E haverá ainda uma canção inédita de Moacyr Luz, Estrela-Guia, feita especialmente para ela, e outra de Paulo César Pinheiro, em parceria com Marcelo Menezes, chamada Inaê.
Sobre Adriana Moreira, diz Menezes: “Tenho enorme admiração por ela. Adriana tem uma força no palco que vejo em poucas cantoras. Isso acontece por sua técnica aliada à sensibilidade. Ela faz a leitura corporal da canção, não apenas a musical. É capaz de trazer elementos da letra e da melodia para o corpo e isso causa um impacto muito forte em quem está assistindo. É uma explosão”, define.
Opinião parecida tem Maurinho de Jesus: “Ela libera uma força ancestral quando canta. O Brasil é a terra das cantoras, mas nem todas são intérpretes. Adriana, com certeza, é uma delas. Em sua voz, meu samba tem outro peso. Não é todo mundo que consegue fazer melhor do que o próprio compositor. Por isso costumo dizer que Adriana é como se fosse parceira de todas as músicas que canta; ela subverte tudo”, diz.
Formada pela Universidade Livre de Música, Adriana Moreira é intérprete egressa do teatro (em 1999 atuou como atriz no espetáculo Samba da Benção, encenado pela Companhia Incomodada no teatro Artur de Azevedo, sob direção de Zé Celso Martinez). Considera-se “porta-voz” dos letristas de sua geração e do seu tempo. “Sou muito criteriosa na escolha do que vou cantar. Preciso gostar da canção antes de tudo. Música e letra têm que mexer comigo, têm que me emocionar, arrepiar, fazer chorar. O compositor tem que me tirar do chão”, comenta.
Para ela, uma boa composição é a que consegue “interpretar o sentimento geral e transmiti-lo de imediato”. É aquela que, passados vinte ou trinta anos, pode ser “ouvida como se tivesse sido feita hoje”. Militante do movimento negro em São Paulo, afirma que só canta “o que soa como verdade” em sua boca. “Tenho lado nas brigas todas; sempre tive e terei. Mas quando tomei consciência de que era uma mulher preta e do que isso significava num país racista como o Brasil, até o meu canto mudou”, diz.
O despertar da consciência sobre questões raciais se deu em sua primeira viagem à Bahia, terra que ela só conhecia por meio dos livros de Jorge Amado e das canções de Dorival Caymmi. O responsável por promover seu primeiro encontro físico com a Bahia, ainda que indiretamente, foi Batatinha — apelido de Oscar da Penha, um tipógrafo baiano, funcionário do Diário de Notícias, que compunha belos sambas batucando na caixinha de fósforos.
Em entrevista a Pedro Alexandre Sanches, publicada na Folha de S. Paulo no dia 14 de maio de 1998, Maria Bethânia afirmou que “se existe um ‘samba da Bahia’ é o samba do Batatinha”. Ela foi, até onde sabemos, a primeira cantora a gravá-lo, em 1965, em seu disco de estreia, quando não tinha mais do que 18 anos de idade. Para Bethânia, a tristeza contida na obra do compositor foi o primeiro detalhe a lhe chamar a atenção. “Ouvia Billie Holiday e Batatinha, achava tudo igual”, disse.
A percepção da irmã de Caetano Veloso sobre a obra de Batatinha foi exatamente a mesma de Adriana Moreira ao ter seu primeiro contato com ela. Durante o show de lançamento do álbum Diplomacia, em 1998, ficou “encantada”. A tristeza das letras e melodias do compositor despertou imediatamente o seu interesse por ele, posto que esta nunca foi uma característica comum à música baiana.
Do samba de roda do Recôncavo à chamada axé music, a alegria e a animação quase sempre deram o tom da produção musical na Bahia. Batatinha parecia ser um caso à parte. “Ele trazia uma melancolia que me lembrava Nelson Cavaquinho e uma delicadeza que me remetia à Cartola; mas ao mesmo tempo era tão… baiano!”, diz a intérprete.
Batatinha morreria de câncer aos 72 anos, no dia 3 de janeiro de 1997, um ano antes do lançamento de seu último disco — que teve a participação de grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Chico Buarque. O show de Diplomacia, acontecido em São Paulo com a presença de Elton Medeiros e Dona Ivone Lara, causaria impacto profundo em Adriana Moreira.
“Foi amor à primeira audição. Como eu podia ter passado tantos anos da minha vida sem saber quem era esse cara?”, pergunta-se a cantora, que saiu do Sesc Ipiranga, palco do show, com uma ideia fixa: gravar um álbum, com faixas inéditas, dedicado ao sambista baiano. “Muitas pessoas foram contra, alegando que ele não era muito conhecido e seria perda de tempo”, recorda Adriana. Mas ela não se deixou desmotivar e deu início à pesquisa de repertório. “Eu estava diante do mestre das melodias em tom menor”, define.
Após quatro anos garimpando músicas de Batatinha e divulgando-as no circuito Sesc e nos bares da capital paulista, Adriana Moreira recebeu a ligação de Carlos Penha, um dos filhos do compositor, que morava na Alemanha. Uma gravação caseira, na voz da cantora, havia chegado até ele, que fez questão de conhecê-la quando voltou ao Brasil para visitar a família.
Na ocasião, Carlos Penha entregou à intérprete todo o acervo de canções inéditas do pai, além de uma caixa de sapato repleta de fotografias. “Quando me deparei com a riqueza do material que tinha em mãos, apresentei o projeto do disco ao Marcus Vinicius de Andrade (diretor musical da gravadora do Centro Popular de Cultura da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, a CPC-Umes). Ele topou na hora!”, conta.
Como parte do projeto, Adriana Moreira foi à Bahia. O objetivo da cantora, além de voltar com a autorização formal da família do sambista para a gravação do álbum-tributo, era se jogar na cidade de Salvador, andar pelas ruas por onde ele andou, beber nos bares em que ele bebeu, falar com pessoas que o conheceram em vida; enfim, entrar de corpo e alma no mundo de Batatinha, para poder cantá-lo com mais intimidade.
Seu cicerone nesta empreitada foi Nelson Rufino, que ela conhecera em São Paulo, num show em que o compositor foi acompanhado pelo grupo Quinteto em Branco e Preto. Rufino a recebeu no aeroporto e juntos foram à casa de Batatinha, ao samba no bar Toalha da Saudade, ao Elevador Lacerda e à Basílica do Senhor do Bonfim, entre outros cantos e quebradas. “Meu sonho era conhecer o Pelourinho — e quando isso aconteceu tive uma crise de choro. Pela primeira vez me senti como todos eles (os negros). Foi o mais próximo que estive da África”, diz Adriana.
É a partir dali que a cantora passa a se ver como “mulher preta”. Ao voltar a São Paulo passa a se engajar no pensamento de autores negros, para de alisar o cabelo e assume a sua africanidade. Nesse contexto de revolução interna, fortalece seus vínculos com o samba e se aproxima do Candomblé. Era uma busca religiosa, mas antes de tudo cultural. Foi um mergulho profundo na sua ancestralidade.
Nelson Rufino, seu “padrinho” na religião, recomenda o Ilê Axé Opô Meregi Décio D’Ogun, próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. “Rufino me dizia que de nada adiantaria eu fazer santo (iniciar-se no Candomblé) estando apenas de passagem pela Bahia, pois iria precisar de alguém por perto para cuidar da minha cabeça”, conta.
Coube a Pai Décio de Ogum, filho de santo da lendária Mãe Stella de Oxóssi (sacerdotisa do Ilê Axé Opô Afonjá, um dos mais antigos de Salvador, falecida em 2018), iniciar Adriana Moreira nos mistérios do orixá. Em 2012, sete anos após sua chegada à casa de santo, ela daria o grande salto no escuro: consagrada à Iansã, deusa iorubá dos ventos e das tempestades, Adriana faria do Candomblé o seu principal refúgio e peça-chave na constituição de sua “nova personalidade”.

Dizer que alguém é “filho” ou “filha” de determinado “santo” (orixá) significa, segundo a ialorixá Gisèle Cossard, enquadrar tal pessoa em determinada “família arquetípica”, onde seus membros possuem características semelhantes, sejam boas ou más. Ninguém escolhe ser “filho” de Ogum, de Oxóssi, de Iansã ou de Iemanjá, por exemplo. Ao contrário, será sempre o orixá o responsável por identificar, através do jogo de búzios, a quem pertence a cabeça do consulente.
No livro Orixás, de Pierre Fatumbi Verger, diz Gisèle Cossard (que era mulher do embaixador da França no Rio de Janeiro antes de largar tudo para se tornar mãe de santo no Brasil): “Se se examinarem os iniciados, agrupando-os por orixás, nota-se que eles possuem, geralmente, traços comuns, tanto no biótipo como em características psicológicas”.
Assim como Gisèle Cossard, Verger acreditava que cada orixá do panteão africano correspondia a um “arquétipo da personalidade escondida das pessoas”. Em síntese: todos os seres humanos nasceriam com tendências inatas que, na maioria dos casos, não se desenvolveriam livremente por conta das regras de conduta impostas pelo meio social em que vivemos — e este bloqueio nos causaria uma série de frustrações ou problemas psíquicos ao longo da vida.
Segundo o etnólogo, se uma pessoa, vítima de problemas não-solucionados, é “escolhida como filho ou filha de santo pelo orixá, cujo arquétipo corresponde a essas tendências escondidas, isso será para ela a experiência mais aliviadora e reconfortante pela qual se possa passar”. Ou seja, é como se, finalmente, assumíssemos nossa “verdadeira personalidade” e encontrássemos resposta a perguntas que fazemos em determinados momentos da existência: “Por que sou assim? Por que isso me faz bem ou mal? Por que me comporto dessa forma e não de outra?”.
Na mitologia iorubá, as filhas de Iansã são mulheres vivas, conquistadoras, ativas, ciumentas e até mesmo cruéis e coléricas. Adriana Moreira se identifica com estas características, mas diz que o Candomblé ensina as pessoas a lidarem melhor com suas virtudes e defeitos. Aceitar as contradições inerentes à vida, por exemplo. “Fui criada como católica apostólica romana, mas cresci numa casa tipicamente brasileira. Uma das minhas tias era carola de igreja, rezava o terço e beijava a televisão quando o Papa aparecia; mas me lembro de vê-la também possuída por espíritos”, conta Adriana.
Ela se refere à Matilde, irmã de seu avô, uma mulher de olhos amendoados que “olhava pra gente com olhar de futuro”. Ela foi a responsável por levar Adriana a fazer a primeira comunhão na igreja. Ao mesmo tempo era quem contava à menina lendas do povo negro que envolviam espíritos e entidades. Adriana se lembra de ter ouvido várias vezes a história de um escravo que fugiu do senhor de engenho usando o incrível dom que possuía: o de se transformar em toco de árvore para enganar os capitães-do-mato. “Ela era filha de Iansã, como eu, embora não praticasse o culto ao orixá. Acredito que essa miscelânea religiosa, por mais confusa que possa parecer, é o que torna tão rica a fé no Brasil”, diz.
A miscelânea de informações culturais e religiosas seria o barro que moldaria o caminho artístico da jovem Adriana Moreira.
“Minha família acabou sendo de classe média graças ao meu avô — e isso é incrível se lembrarmos que ele nasceu num contexto de semi-escravidão”
O pai de Adriana, Jacy Clemente Moreira Filho, separou-se da mãe quando a filha era ainda recém-nascida. Era um tipo beberrão e ciumento que foi embora sem deixar boas lembranças. Sua mãe, Lucíola Aguiar, era bailarina quando moça. Chegou a se apresentar no Theatro Municipal de São Paulo, mas largou a promissora carreira artística para se casar e constituir família. “Até hoje ela mantém a postura ereta de bailarina, embora seja outra pessoa, bem diferente daquela mulher romântica do passado”, diz a cantora.
Após o rompimento com Jacy, Lucíola arruma um namorado carioca e se muda para Duque de Caxias, no estado do Rio (ela voltaria, anos depois, novamente solteira e com mais duas filhas). Por este motivo, a primeira infância de Adriana transcorreu sem a presença dos pais. O avô materno, Jayme de Aguiar, foi quem a educou durante esse período. “No fim de semana me levava à Pinacoteca, ao Museu do Ipiranga, ao cinema, ao samba. Foi ele quem me abriu a mente, quem despertou o meu interesse pelas artes em geral”, afirma.
Para entender a cabeça de Adriana Moreira é fundamental saber quem foi Jayme de Aguiar. Apesar de nascido um ano após a Abolição, em 14 de outubro de 1889, passou os primeiros meses de vida praticamente como escravizado junto à sua mãe, Mariana de Oliveira, e à mãe de sua mãe, dona Emília. Assim como ele, a bisavó e a tataravó de Adriana Moreira também nasceram na fazenda da família Paula Souza, cujo proprietário, após a Lei Áurea, “dispensou” os negros do trabalho em suas terras da forma como tinham sido “admitidos”: com uma mão na frente e outra atrás. Permitiu, porém, que um deles pudesse estudar. Esse um era Jayme de Aguiar.
Com a ajuda do ex-senhor de escravos, Jayme ingressa no colégio Olavo Bilac — instituição particular de ensino em que só entravam rapazes brancos. Foi um aluno aplicado e com inteligência acima da média, mesmo vivendo em condições precárias num cortiço localizado na Bela Vista, onde a última coisa que uma criança poderia almejar era frequentar a escola.
Mariana de Oliveira foi morar no cortiço após deixar a fazenda. Para os negros não havia outra opção. A vida naquele rascunho de favela não era exatamente livre, mas era a sua vida — e essa consciência foi a tábua de salvação em que Mariana se agarrou para não sucumbir às inevitáveis crises emocionais. No cortiço, durante o Carnaval, o garoto Jayme ajudava a mãe a preparar e a servir a sopa dos batuqueiros aos cordões carnavalescos que passavam em cortejo pelos becos e vielas daquele labirinto de pobreza.
Jayme de Aguiar formou-se contador, engenheiro agrimensor e professor. Lecionou Português e Matemática em várias escolas, incluindo o colégio Olavo Bilac, onde iniciou seus estudos. Mas foi como jornalista que se notabilizou em São Paulo: em 1924, ao lado do amigo José Correia Leite, funda o jornal O Clarim d’Alvorada, que seria um marco na história da imprensa negra paulista. Criado inicialmente para ser um jornal literário, tornou-se em pouco tempo uma arma de luta contra o racismo no Brasil.
Até a primeira metade do século XX, os jornais eram o meio de comunicação mais difundido, mas poucos se dispunham a levantar reflexões sobre as questões raciais no país e a denunciar os inúmeros casos de violência e discriminação contra a população negra nos espaços públicos. Os negros começavam então a se organizar politicamente para reivindicar seus direitos — e jornais como O Clarim d’Alvorada, que chegou a circular com dois mil exemplares, cumpriram importante papel à militância.
José Correia Leite, que cuidou de editar o jornal até 1940, falou sobre a importância de O Clarim d’Alvorada, em depoimento recolhido pela Fundação Palmares, pouco antes de sua morte, em 1989: “A comunidade negra tinha necessidade dessa imprensa alternativa. Não se tinha outro meio a não ser copiar o que as colônias estrangeiras faziam. O negro, de certa forma, era também minoria como os italianos, os alemães, os espanhóis. E todos eles tinham jornais e sociedades. As publicações negras davam aquelas informações que não se obtinham em outra parte.”
Passados alguns anos na função, Jayme de Aguiar se afasta do jornal para se casar e assumir outros compromissos; no entanto, não perde totalmente o vínculo com a publicação. “Algo me diz que, de um jeito ou de outro, ele continuou colaborando com O Clarim“, acredita Adriana, para quem é possível identificar o estilo do avô em textos publicados após a sua saída.
Em sua dissertação de mestrado, a pesquisadora Miriam Nicolau Ferrara, da Universidade de São Paulo (USP), discorre sobre a imprensa negra. Durante o processo de pesquisa, a fim de obter acesso aos originais de O Clarim d’Alvorada, foi à casa de Jayme e descreveu assim o encontro, que se deu em 1976: “Ele me olhou firmemente, levou as mãos à cabeça e disse: ‘Mas filha, eu não sabia que o que fiz era tão importante! Me acompanhe.’ No andar superior da casa, subiu em um banquinho e de cima de um armário foi tirando pacotes com os jornais. Impossível descrever o que senti naquele momento. Esse episódio foi o primeiro contato da antropóloga com os velhos militantes da imprensa negra paulista”.
Jayme de Aguiar nunca deixou de produzir. Na época da entrevista para a tese, em plena ditadura militar, trabalhava como datiloscopista no Departamento de Ordem Política e Social, o famigerado Dops. Mas, ao mesmo tempo e sem que ninguém soubesse, escrevia artigos para jornais de São Paulo com o pseudônimo Jim de Araguari, evitando assim que fosse perseguido pelo regime.
O sobradinho verde, que ele construiu na Vila Mariana com o salário de professor e jornalista, foi durante um tempo ponto de encontro de importantes personalidades negras. Adriana afirma que o avô recebia em sua biblioteca artistas e intelectuais como Grande Otelo, Abdias Nascimento e Solano Trindade. Recentemente encontrou cartas trocadas entre Jayme de Aguiar e o arquiteto Ramos de Azevedo, conhecido por remodelar a capital paulista com seus projetos.
O avô de Adriana morreu aos 87 anos, em 22 de fevereiro de 1977, depois de sofrer dois derrames. Foi a neta quem o encontrou caído no chão do quarto. Era Carnaval e o Camisa Verde e Branco seria campeão naquele ano com Narainã, a Alvorada dos Pássaros (Ideval, Zelão e Jordão), o samba-enredo mais bonito de todos os tempos. No dia 13 de maio, o Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas realizou, no auditório da União Brasileira de Escritores, um ato público em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, e ao jornalista Jayme de Aguiar.
“Minha família acabou sendo de classe média graças ao meu avô — e isso é incrível se lembrarmos que ele nasceu num contexto de semi-escravidão”, comenta a cantora. “Não fomos ricos, mas nunca faltou dinheiro pra gente se vestir bem, comer bem, passear de carro, ou seja, levar uma vida digna. Na época éramos a única família negra morando na Rua Afonso Celso. E minha mãe, que mora lá até hoje, continua sendo a única mulher preta do lugar”, comenta Adriana.
Hoje a Vila Mariana é um bairro de classe média alta. Não que fosse muito diferente na década de 1980, mas à época ainda era possível encontrar famílias operárias morando em pensões ou apartamentos localizados sobre estabelecimentos comerciais, em geral mais baratos. Uma delas era a família de italianos comandada por dona Adda, cujo filho mais velho, Flávio, era trompetista e palmeirense roxo. Moravam sobre o açougue, no segundo andar de um prédio de três, quase em frente à “casa das sete mulheres”. Quando o Corinthians jogava, Flávio ia à janela com seu instrumento e tocava o hino do Palmeiras, seu maior rival.
“Ele fazia de propósito, para provocar a minha mãe, corintiana como eu. O futebol era o único fator de desavença entre nós”, diz Adriana, corintiana fanática criada nas arquibancadas do Pacaembu. “Quando tinha jogo, ele e minha mãe batiam boca, cada qual da sua janela, um mandando o outro tomar no cu. Ficavam uma semana sem se falar, mas depois faziam as pazes”, diverte-se.
As pazes, muitas vezes, eram feitas à base de música. “Minha mãe punha os discos da Elizeth Cardoso na vitrola, com o som alto, e Flávio descia com o trompete, ficava acompanhando da calçada até a gente convidá-lo a entrar. A noite terminava em samba na cozinha da dona Adda, com macarronada ou lasanha”, relembra. Na definição da intérprete, aquela era “das poucas famílias que parecia ser uma família de verdade naquela rua; quando não estava fazendo festa, estava brigando em público. Nisso, a italianada e os pretos da Vila Mariana eram bem parecidos”.
Em sua adolescência, vivida entre meados da década de 1980 e início da de 1990, Adriana Moreira forja seu gosto musical. “As músicas que ouvi nesse período me fizeram a cantora que sou”, diz ela, assertiva. Suas memórias musicais têm como pano de fundo a casa verde da Rua Afonso Celso. “Eu não ouvia músicas que eram atribuídas a pessoas da minha idade. Ouvia o que tocava na vitrola e no radinho de pilha da minha mãe”, conta.
Sua recordação musical mais antiga, curiosamente, não faz menção ao samba, mas à música caipira. “Eu acordava às cinco e meia da manhã para me preparar antes de ir à escola — as aulas começavam às sete. Enquanto tomava o café da manhã na cozinha, o rádio estava ligado no programa do Zé Béttio, que minha mãe escutava diariamente nesse horário”, relembra.
Na época, Fio de Cabelo, com Chitãozinho e Xororó, era uma das músicas mais tocadas no Brasil e ela recorda de ouvi-la quase todos os dias no referido programa de rádio. Mas havia uma canção que a emocionava mais: Colcha de Retalhos, guarânia composta por Raul Torres, que ficou famosa na gravação de Cascatinha e Inhana, em 1959. Adriana canta com a voz embargada:
“Aquela colcha de retalhos que tu fizeste
Juntando pedaço em pedaço foi costurada
Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza
Aquela colcha de retalhos está bem guardada
Agora na vida rica que estás vivendo
Terás como agasalho colcha de cetim
Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo
Tu hás de lembrar da colcha e também de mim.”
A cultura caipira faz parte da formação do povo paulista. Até mesmo famílias negras, como a família Aguiar, herdaram de seus antepassados memórias rurais. A escravidão nas fazendas de café do interior de São Paulo tem tudo a ver com isso. “Minha mãe ouvia moda de viola de manhã, talvez por se lembrar da avó dela, minha bisavó Mariana, que foi criada em fazenda”, diz Adriana.
Na juventude, porém, Lucíola Aguiar se envereda pelo caminho sem volta da música negra norte-americana, que lhe seduzia mais do que as canções bucólicas que ouvia na infância. Com isso, Adriana cresce numa casa onde rolava muito jazz e blues. “Minha mãe era louca pelo Ray Charles e pela Ella Fitzgerald. Cresci ouvindo discos de crooners e orquestras”, conta.
Não que a mãe não gostasse de samba. Foi ela quem levou Adriana pela primeira vez à quadra do Camisa Verde e Branco — que se tornaria, ao lado do Corinthians, uma espécie de religião para ela. Mas o fato é que o amor de Jayme de Aguiar pelo Carnaval saltava aos olhos: ele acompanhava a Vai-Vai desde o tempo em que a escola era cordão, frequentava rodas de batuqueiros e tinha o respeito da malandragem. “Ele me levava aos ensaios da escola antes de minha mãe voltar do Rio. Então, quando comecei a me interessar por música, foi natural encontrar a minha turma nos discos da Clara Nunes e dos compositores que ela gravava. Foi a grande paixão musical do meu avô — e minha também”, conta a intérprete.
A adolescência traz ainda uma descoberta que mudaria a forma de Adriana Moreira se relacionar com a música: no disco Alerta Geral, que Alcione lançou em 1978, havia uma canção chamada Entre a Sola e o Salto, pela qual a garota era fascinada. “Certo dia peguei o encarte do álbum para ler o que estava escrito e vi que aquela música que eu gostava era do Gil. Comecei a notar que todas as músicas haviam sido feitas por alguém. E em todos os discos era a mesma coisa! Nunca imaginei que existisse um compositor, que uma música poderia ser inventada”, ri ao recordar.
Por isso, Adriana considera Entre a Sola e o Salto, de Gilberto Gil, uma das composições que mudaram a sua visão de mundo. É a partir dela que a menina começa a se interessar pelos compositores da música popular brasileira e a coletar, com obsessão de pesquisadora, informações acerca da vida e obra de cada um.
“Vê por aquela janela
Entre a sola e o salto do sapato alto dela
Vê por ali, pelo vão
Entre a sola, o salto do sapato alto dela e o chão
Vê como existe um abrigo
Entre a sola e o salto do sapato alto
Contra o perigo do orgulho, da ilusão
Basta um centímetro prum grande coração
No espaço, ali embaixo
Entre a sola e o salto existe a imensidão”
A partir dessa “iluminação”, Adriana passa a frequentar com mais assiduidade a quadra do Camisa Verde, na Barra Funda, onde faz amigos, tem contato com compositores da comunidade e ganha um padrinho: Carlos Alberto Tobias, o Tuba, filho de seo Inocêncio Mulata, fundador da escola. Em 1980, com a morte do velho, Tuba assume o comando da agremiação.
O antigo site da escola descrevia assim seu ex-presidente, falecido dez anos depois, em 15 de janeiro de 1990: “Carlos Alberto Tobias (…) causava espanto aos visitantes menos avisados ao chegarem à quadra da escola e ver o presidente empunhando um surdo, sem qualquer vestígio de autoridade ao lado dos demais integrantes da bateria”. Essa visão sobre a personalidade humilde do sambista, no entanto, é parcial e romantizada.
Fernando Bom Cabelo, compositor do Camisa, conheceu Tobias na época áurea dos bailes da Barra Funda e relata: “Sempre ao lado de Hélio Bagunça, Jorginho Guerreiro e Zelão. Ele era doido! Porém, após a morte do seo Inocêncio ele assumiu a escola com o objetivo de fazê-la novamente campeã — e não media esforços. Para alguns, ele não tinha escrúpulos, mas para mim ele e Walter Guariglio foram verdadeiros guerreiros na defesa de seus pavilhões”.
Odirley Isidoro, poeta e pesquisador do samba paulista, escreveu: “Após a perda de seu pai, Tobias herda e lidera um dos pavilhões mais pesados da cidade de São Paulo. Pesado não pelo fardo, mas pela quantidade de conquistas e importância definitiva para a cultura popular. (…) Um homem que se formou entre as poeiras das peles dos surdos nas reuniões dos cordões; despertava a habilidade de administrador de uma agremiação, sempre lutando pela sua comunidade. (…) Tinha personalidade forte, posicionamento firme e mentalidade administrativa.”
Quando morre Jayme de Aguiar, Carlos Alberto Tobias fica sendo a figura masculina mais importante na vida de Adriana Moreira. Foi a pessoa que mais insistiu para que ela estudasse, numa fase em que a rua lhe parecia bem mais interessante do que os livros. “Ele brigava muito comigo. Dizia que eu era uma mulher preta e que, se não tivesse estudo, a vida seria muito mais difícil do que já era para mim”, afirma a cantora, que chegou a fazer cursinho para a faculdade de Direito e a trabalhar como estagiária num escritório de advocacia. Mas o amor pela música falou mais alto e ela foi estudar canto.
Ao lado da mãe desfilou em muitos carnavais, sempre como destaque em alguma ala ou em cima de um carro alegórico. “A escola de samba foi um ponto de ruptura. Meu primeiro contato com a música ao vivo, de ver alguém tocando um instrumento, foi na quadra do Camisa”, revela. Costuma dizer que o chão da escola “tem axé”: seu filho, Raphael Moreira, e seu neto, Raphinha, foram batizados nele.
No Botequim do Camisa, que ficava na antiga Rua do Samba, Adriana teve seu batismo de samba em roda de batuqueiros. Ali começou a soltar a voz. Aprimorou e ampliou seu repertório ouvindo os mais velhos. Conviveu com os veteranos Talismã, Zelão e Dadinho. Mais tarde, em 1997, integra o Mutirão do Samba, no CMTC Clube, projeto coletivo de sambistas, precursor de iniciativas semelhantes surgidas a partir do ano 2000.
Sua primeira grande projeção midiática viria em 2005, quando participa do Festival “A Nova Música do Brasil”, na TV Cultura, pouco antes de gravar o disco dedicado a Batatinha. Na ocasião, defende o samba Lama, de Douglas Germano, muito bem recebido por uma plateia de 1,5 mil pessoas, mas que não fica entre os melhores na opinião do júri.
Inicialmente a música seria interpretada por Cristina Buarque, mas esta alega que não se sentia à vontade em festivais e Adriana é chamada a substituí-la. O evento registra grande audiência e ajuda a revelar intérpretes em início de carreira, como Fabiana Cozza e Roberta Sá, além da própria Adriana Moreira. Entre os jurados estavam nomes como Eduardo Gudin, Inezita Barroso e o jornalista Mauro Dias. A última noite do festival termina à moda clássica: com uma tremenda vaia.
Sobre este episódio, a Folha de S. Paulo publicou no dia 16 de setembro de 2005 a seguinte resenha (o nome do autor não consta no arquivo online do jornal):
“A voz do povo é a voz de Deus. Mas não é a voz do júri do Festival Cultura – A Nova Música do Brasil. Foi histórica a vaia que o público ofereceu aos vencedores na entrega do prêmio na final do festival, no começo da madrugada de ontem e que tinha ingressos esgotados havia uma semana.
Contabilidade era uma música chata, com letra chata, que citava ‘a alta do preço do preservativo de baixa qualidade’. Achou é bonita, inteligente, emocionante. A segunda foi a favorita do público. A primeira ganhou o festival. No momento da premiação, o público fez questão de deixar ruidosamente clara sua opinião.
O ministro da Cultura, Gilberto Gil, escalado para entregar o prêmio (uma plaqueta simbólica, R$ 50 mil, na realidade) para os escolhidos, acabou também vaiado no palco por tabela. Ele ainda tentou demover o público da vaia e pedir a palavra repetidas vezes (“OK, está registrada a vaia, mas deixa eu falar?”), ao que foi ignorado solenemente pelo teatro lotado, que não parou com a balbúrdia até que ele saísse do palco e os vencedores desistissem de fazer seu discurso de agradecimento.
O público ainda permaneceu no local jogando bolas de papel no palco e passou longos minutos fazendo questão de vaiar os vencedores contestados, impedindo a audição de boa parte da apresentação bisada da vencedora.
Danilo Moraes Doratiotto (filho de um dos apresentadores do festival, Wandi Doratiotto) e Ricardo Teperman, autores e intérpretes da canção vencedora, se mostravam constrangidos, mas tentavam manter a dignidade se concentrando num pequeno grupo de fãs que se juntou na frente do palco para apoiá-los.
Parte do teatro tentou ensaiar um coro reafirmando o favoritismo de Achou, canção de Dante Ozzetti e Luiz Tatit, que havia sido cantada brilhantemente por Ceumar, mas foram desencorajados pelo próprio festival.
Enquanto por um lado a estudante de História Samira Bandeira abordava a reportagem da Folha (“Você vai escrever que foi marmelada? Pode escrever!”), por outro o vencedor popular Luiz Tatit, após a entrega dos prêmios, em conversa informal, matava a charada: “Achei que a música vencedora é muito boa, merecia estar entre as três primeiras. Mas talvez, se a seleção fosse a mesma e a colocação outra, teria sido mais compatível com o público. Imagino que na conversa do júri tenha entrado o fator juventude”.
Adriana Moreira diz que a recepção inicial do plateia levou-a a acreditar, por um momento, que Lama ficaria entre os três primeiros colocados. Esta era (ou parecia ser) uma das músicas preferidas do público. Mesmo não ganhando nada, porém, a cantora teria de cantá-la durante um bom tempo, onde quer que fosse, porque as pessoas a associavam a ela. “A visibilidade que ganhei foi enorme”, diz.
“Um samba que fale das coisas do mundo
Um samba que ninguém precisa explicar
Há de vir com a simplicidade
De qualquer amor
De qualquer suor
De qualquer dor, dessas de verdade
Há de vir carregado de história de vida e de morte
Há de vir no garrancho das mãos calejadas que há por aí
Há de vir com a simplicidade
De quem tem paixão
De quem não tem vez
De uma cicatriz feita de verdade
Há de vir carregado de história
Há de vir carregado de mágoa
Vai ser feito de lama
Que molda, que quebra
Mas nunca se acaba”
“Batatinha me fez existir como cantora e a ter um olhar atento para as coisas simples, mas profundas”
O lançamento de Direito de Sambar, em 2006, aconteceu no momento oportuno em que seu nome ainda era ventilado na mídia por conta do festival da TV Cultura. O álbum mereceu resenhas e críticas positivas na imprensa, assim como o show de estreia na Sala Funarte Sidney Miller, no Rio de Janeiro, com participação especial de Carlinhos Vergueiro. A obra de Batatinha finalmente começava a ser conhecida por um público mais amplo.
Além da faixa-título, que havia tido algumas gravações anteriores, Adriana deu voz às inéditas Indecisão, Sorriso de Mulher, Jardim Suspenso e Salve o Presidente. O disco contou com direção musical e arranjos de Edmilson Capelupi e direção vocal de Eduardo Gudin. Músicos do primeiro time, como Wilson das Neves, Toninho Carrasqueira, Nailor Proveta e Jorge Helder, participam das gravações. Cinco anos depois de lançado, o trabalho ainda daria frutos: em 2011, a cantora volta a Salvador para apresentar o espetáculo no Sesc Pelourinho. No ano seguinte, participa do programa Ensaio, da TV Cultura.
No programa, em entrevista a Fernando Faro, Adriana Moreira revela que a primeira música de Batatinha que lhe chamou a atenção foi Bolero, feita em parceria com Roque Ferreira. “Antes mesmo de entrar no estúdio pedi ao Edmilson Capelupi (arranjador) que desse uma atenção especial a ela. Eu não sabia ainda o que iria gravar, mas tinha uma certeza: essa música estaria no disco”. Bolero, segundo a cantora, é uma composição que parece ter sido feita especialmente para sua voz.
“Por muitos anos vivi
Do palco ao camarim
Pra você me aplaudir
E se orgulhar de mim
Fui bailarina na festa
Dancei para lhe contentar
Sorria
A rodar
A rodar
Gastei a ilusão e a pintura
Nessa ribalta de sonhos azuis
Num papel que destrói
Mas seduz
Aí um dia sem eu perceber
Veio um bolero e me arrebatou
Remocei
Vivo em paz
Terminou”
“Se hoje sou Adriana Moreira devo meu nome ao Batatinha e à família dele, que confiou em mim. Batatinha me fez existir como cantora, a escolher repertório e a ter um olhar atento para as coisas simples, mas profundas. Enfim, me ensinou a crescer como artista. Foi meu divisor de águas”, diz ela.
Em tempos de crise política aguda, em que a América Latina volta a flertar com governos autoritários e o Brasil nunca esteve tão perto de retroceder aos tempos da ditadura — inclusive por meio da censura de exposições, livros e peças de teatro —, sambas como Direito de Sambar soam bastante atuais.
É possível que Batatinha não tenha pensado em fazer uma crítica social quando escreveu a primeira estrofe da letra; mas é provável que sim. Não há registros sobre qual teria sido a sua intenção, mas Adriana classifica o compositor baiano como um homem “simples, mas inteligente e sensível à vida do povo”. De todo modo, sambas com fundo político sempre fizeram parte do repertório de Adriana Moreira, mulher de seu tempo.
“É proibido sonhar
Então me deixe o direito de sambar
É proibido sonhar
Então me deixe o direito de sambar
O destino não quer mais nada comigo
É meu nobre inimigo
E castiga de mansinho
Para ele não dou bola
Se não saio na escola,
Sambo ao lado sozinho
É proibido sonhar
Então me deixe o direito de sambar
É proibido sonhar
Então me deixe o direito de sambar
Já faz dois anos que eu não saio na escola
A saudade me devora
Quando vejo a turma passar
E eu, mascarado, sambando na avenida
Imitando uma vida que só eu posso enfrentar
Tudo é carnaval
Pra quem vive bem
Pra quem vive mal”
“Meu repertório é ancestral. Tenho mais de mil músicas na ponta da língua”
“Meu repertório é ancestral. Tenho mais de mil músicas na ponta da língua. Muitas coisas que canto nunca estudei, saem naturalmente. As canções vivem dentro de mim”, confidenciou-me Adriana na noite de 4 de dezembro de 2018, após sua participação no I Festival de Samba de Campinas, no Tonico’s Boteco, do qual fui um dos organizadores (a composição defendida por ela — Partida, de Rodolfo Gomes —, ganharia o prêmio de Melhor Samba).
Por trás da aparente naturalidade com que as canções saem de sua boca, porém, estão duas fontes de influências cristalinas, onde ela bebe desde menina e pesca o seu repertório sempre em construção: a família e a escola de samba — referências que se fundem, no caso dela.
Adriana Moreira não nasceu dentro da escola, mas ao ser apresentada ao Camisa Verde, ainda criança, desenvolveria um afeto intrínseco pela cultura da agremiação — e isso moldaria para sempre sua percepção musical. Seria um erro, portanto, disassociar o repertório da cantora do universo do samba paulista, cuja atmosfera recende a rodas e cordões tradicionais, por mais que sua carreira também transite pelos espaços musicais da classe média universitária.
Embora o próprio Camisa Verde e Branco reconheça que sua fundação se deu em 1953, há quem considere, como Adriana, que ele descende diretamente do Grupo Carnavalesco ou Cordão da Barra Funda, fundado em 1914 por Dionísio Barbosa — o que o tornaria a escola de samba mais antiga do Brasil. A história de resistência da agremiação permeia o imaginário da cantora há muitos anos.
Em sua história, o Camisa Verde, sempre comandado pela família Tobias, enfrentou problemas com duas ditaduras: em meados da década de 1930, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, integrantes do Cordão da Barra Funda foram perseguidos pela polícia por serem confundidos com simpatizantes da Ação Integralista Brasileira, de Plínio Salgado, grupo fascista de extrema direita cujos membros adotavam a cor verde em sua indumentária — por infeliz coincidência, a mesma usada pelos sambistas, que foram obrigados a manter o cordão na clandestinidade.
Anos depois, o Camisa Verde e Branco, já como escola de samba, de novo seria alvo de perseguição política, dessa vez da ditadura militar. Em 1983 a agremiação apresentou como proposta de enredo para o Carnaval daquele ano uma homenagem ao marinheiro João Cândido, líder da Revolta da Chibata. O samba, intitulado João Cândido: Um Sonho de Liberdade, trazia versos como “Assim, o tal cadete enganava/ O mundo inteiro com a anistia aclamada/ Na Ilha das Cobras a vingança foi voraz/ Ignoraram a bandeira da paz”.
O enredo, como era de se esperar, foi vetado pela censura, que viu na letra uma afronta ao regime e a exaltação de persona non grata à Marinha Brasileira. Em substituição à proposta original, a escola da Barra Funda concorreu com o samba Verde Que Te Quero Verde, tema ameno sobre ecologia, terminando na quinta posição.
O Camisa só levou o samba para João Cândido à avenida em 2003. O desfile contou com a presença do neto do “Almirante Negro” no último carro alegórico e obteve o sexto lugar no Grupo Especial. Em 2017, o enredo foi reeditado, mas dessa vez a escola desfilou no Grupo de Acesso. “Ver a escola sair com esse enredo era o sonho do meu pai; e nós conseguimos”, diz Simone Tobias, em referência ao padrinho de Adriana.
É preciso, antes do fim, voltar pouco mais ao passado, exatamente ao ano de 1981, para vermos a menina Adriana Moreira, aos dez anos, roendo as unhas pintadinhas pela mãe, minutos antes de entrar na avenida para o seu primeiro desfile. Levada por Lucíola, Adriana conta ter sentido ali a primeira grande emoção de sua vida. “Foi uma sensação arrebatadora”, define. Vestida de melindrosa, com o dia querendo amanhecer, olhava as arquibancadas lotadas ao seu redor e se sentia especial. “Eu sabia que os aplausos não eram para mim; mas percebi que estava fazendo parte de algo importante”, comenta.
Amor, Sublime Amor, enredo que falava do amor ao longo da história humana, desenrolou-se na Avenida Tiradentes com samba composto por Fernando Bom Cabelo e Digê. A interpretação ficou a cargo de Zé Maria. Quando Adriana começa a cantá-lo, tantos anos depois, flashs de seu primeiro desfile vêm à mente e a emoção emerge do passado, com doçura infantil.
“Ôôô, amor sublime amor
Ôôô, é obra do criador
Terminou o paraíso
Por causa da tentação
Começou a nova era
Da civilização
Os amores da história
A Marquesa e o Imperador
Ceci, Peri, Gabriela e Dona Flor
Ei Cupido, atira a flecha do amor
Como flores sem escolher a cor.”
É comum que situações vividas há quarenta anos retornem por meio de lembranças fragmentadas. No caso de Adriana não seria diferente. Algumas imagens, porém, são mais fortes do que outras. Uma delas é a do sambista Jangada batucando na mesa da cozinha, enquanto ela, pequena de tudo, canta em dueto um samba que ele acabara de fazer para a Gaviões da Fiel — que na época ainda era bloco. Casado com Maria Lúcia, prima da mãe de Adriana, ele frequentava a casa da família Aguiar. “Foi uma espécie de tio postiço para mim”, diz ela.
Jangada era o apelido do jornalista e compositor Marco Aurélio Guimarães, um tipo branco, alto e magro, que fumava desbragadamente e adorava se meter em confusões. Natural do Rio de Janeiro, radicou-se na capital paulista para trabalhar na imprensa e acabou se tornando figura carimbada do samba. Em 1968, o prefeito Faria Lima oficializou o apoio do poder público ao Carnaval. Era a primeira vez que isso acontecia em São Paulo. Dada a sua experiência como carnavalesco no Rio (fundou a Unidos de Lucas), Jangada foi convidado a redigir o regulamento do desfile.
Para a professora Olga de Moraes von Simson, pesquisadora do samba paulista e ex-diretora do Centro de Memória da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a contribuição de Jangada ao Carnaval de São Paulo é “controversa”, uma vez que, por “desconhecer a realidade do samba paulista” teria escrito um regulamento “inteiramente baseado nas escolas de samba cariocas, forçando assim todos os cordões, no curto período de quatro anos (1968-1972), a se transformarem em manifestações assemelhadas às do Rio de Janeiro, apagando assim a sua rica trajetória cultural”.
O dramaturgo Plínio Marcos, em artigo publicado na Folha de S. Paulo em 5 de dezembro de 1976, pensava diferente. Ele afirma que Jangada “chegou dizendo que São Paulo não dava samba, arrumou muitos atritos, mas acabou indo ver o samba da Paulicéia de perto. Gostou de alguma coisa, de outras não, mas entrou em tudo. Não vai mais embora. É uma figura folclórica, briga por qualquer coisinha, mas é uma alma boa que não vacila em ajudar sambistas e escolas de samba pequenas. Não tem preço a contribuição que o Jangada vem dando ao samba aqui em São Paulo.”
Plínio Marcos foi um dos primeiros amigos que Jangada fez na “terra da garoa”. Na definição do autor de Dois Perdidos Numa Noite Suja, ele era “malandro, irreverente e iconoclasta” — qualidades que mais apreciava numa pessoa. Passaram a andar juntos pelo bas-fond paulistano. Em pouco tempo de amizade, Plínio transformara o sambista em ator: Jangada passou a participar de pequenas esquetes que o escritor bolava para vender suas rústicas edições literárias nos bares da Boca do Lixo. Foi além: em 1981 integrou o elenco da peça Jesus Homem, do próprio Plínio Marcos.
O jornalista Ruy Fernando Barboza foi testemunha de várias passagens que dizem muito sobre o fascinante personagem que era Jangada, um sujeito “respeitado nas favelas, morros, periferias e meios intelectuais de Sampa e do Rio como sambista, carnavalesco, jornalista, raivoso, encrenqueiro, solidário e amigo, morto nas vésperas de um Carnaval”, como o definiu certa vez.
Em artigo publicado no Observatório da Imprensa, Barboza narra um episódio que sintetiza o espírito da malandragem paulistana que Jangada incorporava como se fora nascido e criado na Barra Funda:
“Em 1980, minha mulher, Maria Elisa, quis levar produtos naturais, orgânicos e integrais para as feiras livres de São Paulo. Manteve em várias feiras, durante um bom tempo, uma barraca com esses produtos. Em várias dessas feiras, Jangada era conhecido como Limão. Temporariamente desempregado e se dedicando à música, aumentava o orçamento doméstico comprando montes de limões no atacado e indo vender nas feiras, sem barraca nem registro, apenas para faturar algum. Maria Elisa, pouco iniciada na vida de feirante, viu um sujeito roubando a carteira de uma dona de casa e deu um grito, avisando a mulher. A mulher gritou também, o homem avançou pra cima da Maria Elisa, e o Jangada se interpôs, dizendo ‘Calma aí, queridão, ela é novata aqui e não sabe das coisas, mas é minha amiga. Está tudo bem, todo mundo amigo, deixa que eu resolvo’. O ladrão se aquietou e seguiu em frente no seu trabalho. Enquanto o Jangada ensinava à Maria Elisa que feirante não denuncia ladrão de feira, senão tem a barraca destruída. Por mais que veja, fica quietinho e cuida da sua vida. ‘Tem que miguelar!’, concluiu, e foi voltando ao seu posto, anunciando ‘Olha o limão, patroa!’.”
Jangada terá, na história de Adriana Moreira, passagens breves e marcantes. Com ele a menina foi a uma disputa de samba-enredo da Gaviões da Fiel, antes mesmo de desfilar pela primeira vez no Camisa. Jangada foi também o primeiro compositor que Adriana conheceu pessoalmente — e isso faria dele uma espécie de personagem. “Eu prestava muita atenção na maneira como ele falava, como escrevia, como cantava e até como acendia o cigarro. Achava o máximo. Até hoje, quando alguém me diz que fulano é compositor, a referência que me vêm à mente é o Jangada”, diz.
Além de assinar sambas-enredos em várias escolas de São Paulo, Jangada registra suas composições no elepê Balbina de Iansã, de 1971, trilha sonora do espetáculo homônimo de Plínio Marcos — o primeiro de uma série de musicais pensados para dar visibilidade aos compositores “marginais”, ligados ao mundo do samba. Na peça, a religiosidade do negro e sua inserção na cultura brasileira recebem um tratamento isento de estereótipos e preconceitos, algo raro. Jangada responde pela maioria das composições, entre elas Canto de Exu e Xangô é Pedra Noventa.
Nascido em 1932, o compositor morre no Rio, em 2008, vítima de câncer. A mãe de Adriana Moreira dá adeus ao amigo dos tempos de esbórnia. Jangada foi, provavelmente, seu companheiro mais constante de bebedeiras — rotina que adquiriu após perder o pai, Jayme de Aguiar. Lucíola “caiu na pândega”, como diz a cantora. “Ela passava dias sem voltar pra casa. Vivia entre o deslumbre do samba e a frustração de ter que acordar cedo para trabalhar como empregada na casa de uma família branca”, conta.
Hoje, aos 70 anos, dona Lucíola Aguiar é professora formada em História e uma senhora que, conforme já disse Adriana, mantém um quê de bailarina em seu modo elegante de caminhar. Pilar da família, mora na mesma casa onde nasceu e foi criada — a “casa verde” da Vila Mariana, que não é mais verde, mas azul, e está com os dias contados (recentemente uma construtora comprou vários imóveis no quarteirão. Assim que o sobradinho for demolido, um arranha-céu ocupará seu lugar).
“Estive lá esses dias e fiquei emocionada, lembrando tudo o que vi e vivi naquele quintal”, comenta Adriana Moreira. Se pudesse, confessa a cantora, compraria a casa da infância para transformá-la num museu dedicado ao avô. “Minha mãe e eu nascemos ali; meus filhos também. É um ciclo que se encerra, um pedaço da nossa história que se vai com a casa”, lamenta.
Raphael Moreira, nascido em 1988, e Pedro Moreira, em 1996, frutos do casamento de Adriana com o percussionista Ewerton Vieira de Almeida, o Gordinho, acompanham a mãe em shows e gravações. Além de músicos — Raphael toca percussão e Pedro trombone —, são também compositores. Juntos fizeram a canção Vozes e Faces, um lamento dedicado à mãe, que estará no álbum Roda. A primeira parte diz:
“Vozes sem rostos a gritar
Num ambiente sombrio
Não sei se são reais ou imaginação
Mas bradam versos de arrepiar
De fazer chorar, tentam me calar
São essas vozes de dor
Que ofendem bons irmãos
Que não querem paz
Propagam o mal
Não são de bem
Mas quem é de lutar
Não se deixa levar
Faz do samba paz
Vai e canta…”
Raphael Moreira conta um episódio nunca antes revelado de sua relação com a mãe: “Um dia a surpreendi muito triste com os caminhos que a sua carreira estava tomando. Queria abandonar tudo, chorando na cama. Então coloquei um disco do Chico Buarque pra tocar e começou a tocar a faixa Cordão. Sentei-me ao lado dela e fiquei passando a mão em seus cabelos, enquanto ouvíamos a música em silêncio. Dias depois ela renasceu e começou pesquisar repertório para um disco novo. Não foi à toa que ela deu a ele o nome de Cordão“, revela, enquanto cantarola:
“Ninguém
Ninguém vai me segurar
Ninguém há de me fechar
As portas do coração
Ninguém
Ninguém vai me sujeitar
A trancar no peito a minha paixão
Eu não
Eu não vou desesperar
Eu não vou renunciar
Fugir
Ninguém
Ninguém vai me acorrentar
Enquanto eu puder cantar
Enquanto eu puder sorrir
Ninguém
Ninguém vai me ver sofrer
Ninguém vai me surpreender
Na noite da solidão
Pois quem
Tiver nada pra perder
Vai formar comigo o imenso cordão”
Com Cordão, Adriana foi selecionada para se apresentar no Festival Visa for Music, em Rabat, no Marrocos, em 2014. Única brasileira a participar do evento de música negra, a cantora se apresentou ao lado de artistas vindos de países como Egito, África do Sul, Uganda, Quênia, Tunísia e Mauritânia, entre outros. De volta ao Brasil, recebeu em sua casa a diva do soul norte-americano Sharon Jones, que quis conhecê-la.
“A intensidade dela nas músicas que interpreta é algo que só vejo em cantoras como Elizeth Cardoso, Clara Nunes ou Alcione. Até evito ouvir as gravações da minha mãe porque me emociono muito. Ela carrega na voz todo o peso da vida”, comenta Raphael.
“Só sei falar cantando”, disse certa vez Adriana Moreira, em frase lapidar. E é dessa forma, cantando, que ela tem falado ao Brasil desde que compreendeu, em sua primeira viagem à Bahia, qual era a sua missão: interpretar o país através da poesia de sua gente. Uma contribuição e tanto àquilo que um dia chamaremos de Nação.
Gosto muito de uma antiga entrevista de Plínio Marcos em que ele diz: “Não posso aceitar o mundo sem a participação cultural do povo onde me criei. Não posso aceitar o mundo sem berimbau, caipirinha, bumba-meu-boi. Não posso aceitar o mundo sem feijoada, sem farofa, sem macumba”.
Subscrevo. E tomo a liberdade de acrescentar: “Não podemos aceitar o mundo sem o samba na voz de Adriana Moreira”.
Texto atualizado às 11h00 de 13 de abril com correções.