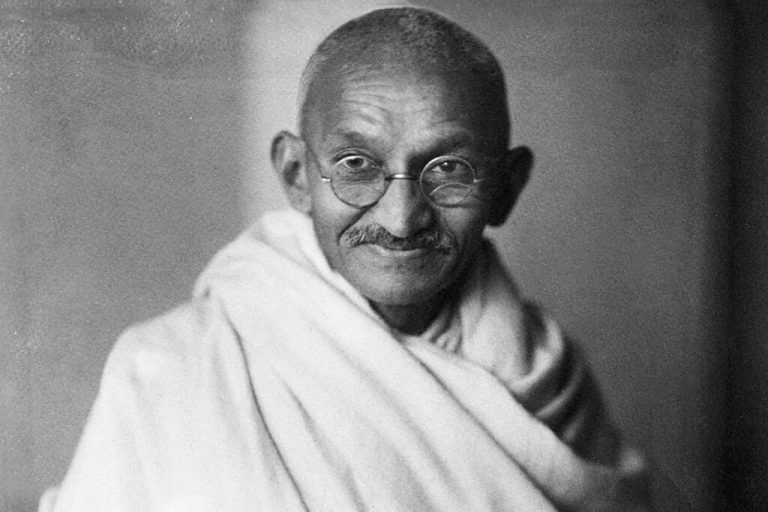A militarização do espaço, em linhas gerais, consiste numa resposta dada pelo capitalismo em crise estrutural, direcionada para a força de trabalho sobrante e excluída do processo produtivo direto. Junto com a militarização, temos o encarceramento em massa desta mesma população, o controle rigoroso com uso de tecnologias de guerra adaptadas para espaço urbano, o extermínio brutal e permanente e a militarização do espaço através do uso das Forças de Segurança (polícias civil, militar e federal) e Forças Armadas para a realização de policiamento ostensivo. Estas formas de tratamento dadas pelo capitalismo para o conjunto da força de trabalho não funcionam de forma isolada ou sucessiva, mas, ao contrário, funcionam de forma concatenada, formando circuitos de violência.
A crise estrutural do capitalismo avança de maneira intensa, levando a sociedade a um completo colapso. Seu traço marcante é a incapacidade de manter as contradições entre os desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. Assim, suas esferas orgânicas desmoronam objetivamente, sendo impossível tentar extrair ainda algo novo de uma sociabilidade em ruínas. Outros pontos visíveis da crise do capital são as condições mais degradantes possíveis em que o conjunto da força de trabalho se encontra, e a intensificação sistemática da produção de mortes em territórios que não vivem uma guerra declarada, como o caso brasileiro; fatos que motivam alguns pensadores a ainda insistirem em ignorar sua relação com o modo de produção da vida material apenas para entoar panaceias progressistas sustentadas pela ética do trabalho. Assim, já passou da hora das sucessivas tentativas de tentar administrar a democracia de mercado do tipo humanizado, o que nos interessa é destruir este estado de coisificação. E não são poucos os que ainda acreditam numa retomada de um “novo ciclo de acumulação”, como foram os anos pós Segunda Guerra até a crise de 1970, deixando para trás este sombrio passado recente de sobreacumulação e colapso social que tanto nos devora. Portanto, a crítica da distribuição da riqueza socialmente produzida no capitalismo tornou-se limitante; na verdade, esta perspectiva indica um tempo histórico já esgotado.
Essa força de trabalho historicamente esgarçada de forma violenta pela acumulação de capital e de caráter estrutural, a meu ver, extrapola a categoria do exército industrial de reserva. Tratando-se de um capitalismo em ruínas, a produção de trabalhadores descartáveis também extrapolou a superpopulação relativa de Marx e se intensificou mundo a fora, com contornos dramáticos para países de capitalismo dependente e periférico. Ou seja, existe hoje uma força de trabalho em constante crescimento, mas que não serve para os processos produtivos do capital, precisando sobreviver de alguma forma que é sempre de maneira subjugada, precarizada e inepta.
Alberto Guimarães (1982), analisando esse processo no Brasil, vai chamar essa massa de trabalhadores supérfluos de “classes perigosas”. As classes perigosas ou dangerous classes segundo ele representam um conjunto social formado à margem da sociedade civil que surgiu na primeira metade do século XIX, num período em que a superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva atingia proporções exponenciais na Inglaterra. As classes perigosas eram formadas por pessoas que tivessem passagem pela prisão ou não, notoriamente pessoas que dependiam da pilhagem, roubos e trapaças, convencidas de que poderiam, para o seu sustento e o de sua família, ganhar mais praticando furtos do que trabalhando.
A origem das classes perigosas no Brasil remonta aos profundos problemas da passagem do trabalho escravo para o trabalho livre (assalariado) e as dificuldades encontradas pela população negra ao tentar adaptar-se à força nos resultados da reestruturação produtiva do capitalismo dependente e periférico na primeira metade do século XX. Ou seja, a força de trabalho negra já nasce marginal e excluída do processo produtivo reorganizado.
Clóvis Moura (1980), também realizando uma análise da realidade brasileira, aponta para a formação de uma franja marginal excludente como elemento do mito da democracia racial brasileira, assentada numa política racista de extermínio do negro brasileiro. Essa força de trabalho, segundo ele, também extrapola o exército industrial de reserva. “Por isto mesmo necessitava de um contingente marginalizado bem mais compacto do que o exército industrial de reserva no seu modelo clássico europeu. Havia necessidade da existência de uma grande franja marginal capaz de forçar os baixos salários dos trabalhadores engajados no processo de trabalho. Essa franja foi ocupada pelos negros, gerando isto uma contradição suplementar”, diz.
No capitalismo contemporâneo, portanto, é possível apontar a maneira como se constituem as classes perigosas: 1) pelo conjunto populacional sobrante e excluídas, que formam uma força de trabalho dispensada tanto pelo avanço tecnológico quanto pela reorganização da atividade produtiva e até mesmo do exército industrial de reserva; 2) pelo contingente de pessoas submetidas ao subemprego e ao emprego precário, sem qualquer seguridade social e trabalhista; 3) a população negra das grandes cidades, que ocupa as favelas e periferias. Este último ponto vai de encontro com a análise de Wacquant (2006) sobre a “estigmatização territorial da marginalidade avançada”. O sociólogo francês assegura que os Estados Unidos e os principais países da Europa vivenciam um novo regime de marginalidade como consequência das novas formas de pobreza na sociedade contemporânea. Estas novas formas não são mais cíclicas ou temporárias, mas sim estruturais; são transformações, portanto, originadas da crise estrutural do capitalismo. Para Wacquant, a marginalidade avançada explica como, diferente de processos anteriores, as novas formas de pobreza urbana acompanham uma estigmatização territorial, consequências da decomposição de classe que possui uma dupla tendência para a precarização do trabalho e o direcionamento para territórios inferiores do espaço social urbano.
Se aproximarmos a discussão trazida por Loic Wacquant com o excelente trabalho de Michelle Alexander acerca da “Nova Segregação: racismo e encarceramento em massa”, é possível extrair uma dimensão racista da análise feita pelo francês e até mesmo a passagem do território estigmatizado para a prisão. Michelle Alexander aponta o papel de mecanismos jurídicos (como as Leis de Jim Crow nos EUA) e mais a chamada Guerra às Drogas como sendo fundamentais para o aumento punitivo através do encarceramento em massa da população negra. Escreve: “Em menos de trinta anos a população carcerária dos Estados Unidos explodiu: de 300 mil, passou para mais de 2 milhões – e as condenações ligadas às drogas foram responsáveis pela maior parte desse aumento. A dimensão racial do encarceramento em massa é sua característica mais impressionante. Nenhum outro país no mundo aprisiona tanto minorias raciais. Os Estados Unidos prendem um percentual maior da sua população negra do que a África do Sul na época do apartheid”. Este ponto é crucial e explica como a estrutura social dominante utiliza-se de diferentes mecanismos históricos para a manutenção de um projeto social pretendido universal, que faz suas maiores vítimas aqueles que não fazem parte ou se negam a esta universalidade. A militarização é um desses mecanismos. A reflexão de Michelle Alexander explica que a vida dos negros/as estadunidenses passou a significar uma predisposição racial para serem escravos, segregados e mesmo encarcerados. Alinha-se muito com o que Achile Mbembe já dizia em “Crítica da Razão Negra” sobre como o racismo cumpriu (e cumpre) um papel de definição do Outro num conceito filosófico, moderno e colonizador universalizante.
“A raça é o que permite identificar e definir grupos populacionais em função dos riscos diferenciados e mais ou menos aleatórios dos quais cada um deles seria o vetor. Nesse contexto, os processos de racialização têm como objetivo marcar [violentamente] esses grupos populacionais, fixar o mais precisamente possível os limites em que podem circular, determinar o mais exatamente possível os espaços que podem ocupar, em suma, assegurar que a circulação se faça num sentido que afaste quaisquer ameaças e garanta a segurança geral. Trata-se de fazer a triagem desses grupos populacionais, marcá-los simultaneamente como espécies, séries e casos, dentro de um cálculo geral de risco, do acaso e das probabilidades, de maneira a poder prevenir perigos inerentes à sua circulação e, se possível, neutralizá-los antecipadamente, no mais das vezes por meio da imobilidade, do encarceramento [extermínio] ou deportação. A raça, desse ponto de vista, funciona como um dispositivo de segurança fundado naquilo que poderíamos chamar de princípio do enraizamento biológico pela espécie. A raça [o racismo] é ao mesmo tempo ideologia e tecnologia de governos [e da estrutura social]”, escreve.
Se aprofundarmos ainda mais os mecanismos de controle social generalizado dos perfis estereotipados, chegamos às mortes produzidas por esta forma social violenta e militarizante. Por isso concordo com o professor Marildo Menegat quando diz que a atual situação social capitalista brasileira significa o fim da gestão da barbárie, que já vem desde a última grande crise na década de 1970. Portanto, não há para onde fugir, não existem quaisquer medidas compensatórias que tentam aliviar o pauperismo estrutural, a barbárie burguesa expõe a nu o modo de destruição da vida social.
No caso brasileiro não é mais possível combinar operações policiais em favelas com acesso ao crédito e consumo dos pobres, que conjunturalmente saíram da linha da extrema pobreza. Resta apenas, portanto, a intensificação de uma ordem violenta militarizada, produtora de sujeitos matáveis.
“O colapso da sociedade brasileira entrou num tempo de aceleração. Uma economia política da barbárie se consolidou e é ela que explica os movimentos de alterações dos direitos trabalhistas, das aposentadorias, do teto de gastos e, inclusive, do campo de conduta dos indivíduos cuja liberdade de escolha dos diretos humanos tentavam preservar. Esta nova intencionalidade, mais crua e brutal, precisa ser entendida para além de simples maniqueísmos políticos, pois, ao que tudo indica, nunca esteve ausente no período anterior que por ora findou” escreve Menegat.
Ainda sobre o território nacional e no âmbito constitucional, em 1988 foram promulgados 245 artigos sobre intervenções militares e uso das Forças Armadas para policiamento urbano. Plano associado com as mais avançadas democracias do mundo. Na esteira desses preceitos, no entanto, uma parte significativa da Constituição de 1998 permaneceu intacta, herdando a Constituição do período militar de 1967 e a sua emenda de 1969, que aproximam-se das cláusulas relacionadas às Forças Armadas, Polícias Militares estaduais, Sistema Judiciário Militar e de Segurança Pública em geral. As Forças Armadas sabiam da importância de perpetuarem o longo histórico de suas práticas, mesmo abrindo o país para uma “democracia”. Nesse sentido, nomearam 13 oficiais superiores para fazer lobby, representando os interesses militares diante dos constituintes civis.
Para a construção da chamada Constituição Cidadã de 1988, os trabalhos tiveram que ser divididos em comissões e subcomissões, e foi aí que os militares tiveram um papel decisivo. A Comissão de Sistematização a presidência era do deputado Bernado Cabral (PMDB, PFL e PP), um notório aliado dos militares e que depois seria Ministro da Justiça de Fernando Collor. Já a Comissão de Organização Eleitoral Partidária e Garantia das Instituições, que ficou a cargo dos capítulos ligados às Forças Armadas e a Segurança Pública, era presidida pelo senador Jarbas Passarinho (ARENA, PPB, PDS, PPR e PP), um coronel da reserva que serviu como ministro dos governos de Costa e Silva, Médici e Figueiredo. Também foi um dos que assinou, em 1968, o Ato institucional número 5 (AI-5).
Era neste contexto que o artigo 142 da Constituição brasileira decidiria que as Forças Armadas se preocupariam com a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e a lei e a ordem. Na prática, são os militares que possuem o poder de funcionamento das outras esferas do Estado como Legislativo, Executivo e Judiciário. Portanto, fica claro que as Forças Armadas garantem uma democracia que elas mesmas definiram como tal. Entretanto, o artigo não define quem e nem quando a ordem social foi violada, ou seja, serve como uma espécie de bravata incontestável que fundamentaria ações violentas seguidas de morte daqueles que as Forças Armadas definiram como desordeiros. O artigo 142 também deferiu que tanto o Judiciário quanto o Congresso poderiam pedir a intervenção das Forças Armadas em assuntos domésticos, leia-se contra o seu inimigo interno.
Tal fato permitiu que um juiz de Volta Redonda convocasse o Exército para intervir numa ocupação grevista na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) em 1988, causando a morte de três operários. De lá para cá, foram inúmeras as intervenções das Forças Armadas, principalmente para ações e ocupações em favelas e com um foco no Rio de Janeiro, com o objetivo de retomar a sensação de segurança abalada pelo aumento da violência no Brasil, como se a favela fosse a “fábrica de violência”. Essa é a única justificativa possível para o uso das Forças Armadas no Brasil hoje. Enquanto não ocorre ameaça de invasão externa nas fronteiras do Estado-Nação, Exército, Marinha e Aeronáutica aplicam todo treinamento e capacidade bélica de guerra para fazer policiamento nas cidades. Foi exatamente o que ocorreu nas ocupações das Favelas do Complexo do Alemão em 2010 e Maré em 2014, além da intervenção militar de 2018, processos que transformaram essas favelas em verdadeiros confinamentos espaciais, ultrapassando a tradicional e insistente segregação espacial.
No entanto, este tipo de militarização não circunscreve apenas nos marcos legal da institucionalidade, pelo contrário, a ultrapassa abertamente, infiltrando-se na vida social de maneira geral e muita das vezes servindo de substituto para resolver questões sociais, como é o caso das escolas e seus projetos pedagógicos, manifestações culturais, serviços, etc., Por tudo isso é que a militarização é o resultado de uma forma social em ruínas.
Para muitos especialistas, o problema da militarização se resolveria através das mudanças institucionais via artigo 142 da Constituição, ou seja, toda truculência policial presente no seu ser social é resultado de um apelo jurídico e não da sua própria realidade. Isto se explica pela permanência da emenda constitucional do período de exceção da ditadura, de 1969, exatamente referida nas ações das Forças Armadas e Polícia Militar estadual. Durante a ditadura empresarial-militar brasileira a polícia cumpria um papel de força auxiliar das Forças Armadas, e não apenas isso, acabou agregando em si todo o ethos militarizado oriundo das Forças Armadas, como estética e até mesmo tipo de armamento utilizado para o policiamento. No entanto, após a constituição de 1988, muda-se apenas do termo “auxiliar” para forças “reserva”, e as Forças Armadas mantêm seu controle sobre as polícias estaduais. A alegação era que em momentos de “distúrbio social” seria preciso ter todas as forças unificadas.
Portanto, assim como em Bagdá, Porto Príncipe, Michoacán, Medellín, e algumas cidades estadunidenses como Manhattan, Charlotte, Carolina do Norte, etc., a cidade do Rio de Janeiro vem experimentando, já há algum tempo, este urbanismo militarizado que modifica substancialmente a estrutura das cidades nos seus planos políticos e sociais.
Esses planos de reestruturação das cidades formaram esses caminhos desde o fim da Guerra Fria. Neste período as tensões militares estavam quase sempre distantes das cidades, restritas a fronteiras territoriais dos países em disputa. Entretanto, com o mundo cada vez mais urbanizado, as tensões militares são deslocadas para dentro dos próprios países, no centro de suas principais cidades, ou seja, deixam de ser algo distante da população citadina para tornar-se mais um ente no seu cotidiano. Um fato significativo presente nesta trama mutável ocorre: ao mesmo tempo, a transferência de todo aparato bélico utilizado em guerras pelas forças de segurança que atuavam no estrangeiro para a dominação completa de ambientes urbanos, tecnologias usadas na Guerra Fria, por exemplo, recebem garantias de uso generalizado em espaços urbanos domésticos. Stephen Graham afirma que este urbanismo militar materializa a discussão que Foucault realizou sobre o “bumerangue” em que instituições, armas e técnicas militarizadas de exercício de poder aplicadas nas colônias, seriam também aplicadas nas metrópoles, ou seja, voltariam para os colonos ocidentais, sendo utilizadas no policiamento urbano.
“O novo urbanismo militar se alimenta de experiências com usos de tecnologias em zona de guerras coloniais, como Gaza ou Bagdá, ou operações de segurança em eventos esportivos ou cúpulas policiais internacionais. Essas operações funcionam como um teste para tecnologia e as técnicas a serem vendidas pelos prósperos mercados de segurança nacional ao redor do mundo. Por processos de imitação, modelos explicitamente coloniais de pacificação, militarização e controle, aperfeiçoados nas ruas do Sul do globo, se espalham pelas cidades do centro capitalistas do Norte”, diz Graham.
Ao “retornarem”, estas técnicas e armas ganham um amplo mercado, assumindo um extenso uso em locais anteriormente desconsiderados. Este esforço se traduz em um controle estendido do cotidiano dos trabalhadores matáveis, seja no centro ou na periferia do capitalismo; há uma significativa mudança espacial a partir de escalas necessárias para manutenção do controle. É interessante destacar que a ideia do “novo urbanismo militar” sublinhada por Stephen Graham se assemelha às práticas de ocupação colonial (neocolonial) recorrentes nos países asiáticos, latinos e africanos colonizados pelas potências liberais europeias. O uso de exércitos militares com controle territorial produtor de extermínio já demonstrava sua força para a dominação social e completa. É o que atestava Frantz Fanon em Os Condenados da Terra: “Nas regiões coloniais, a polícia e o soldado, pelas suas intervenções diretas e frequentes, mantêm o contato com o colonizado e aconselham-no, com golpes de coronha ou incendiando as suas palhotas, que não faça qualquer movimento. O intermediário do poder utiliza uma linguagem de pura violência. O intermediário não mitiga a opressão, nem encobre mais o domínio. Expõe e manifesta esses sinais com a boa consciência das forças da ordem. O intermediário leva a violência à casa e ao cérebro do colonizado.”
Nesta dinâmica misturam-se forças policiais, forças armadas e grupos armados, que movimentam em torno de si todo aparato bélico possível. São circuitos militarizados que se fundem, dificultando o entendimento de outrora em que era possível compreender com clareza onde tais forças eram utilizadas de acordo com o potencial bélico do inimigo. Agora, entretanto, basta a mínima justificativa para que o Estado disponha e mobilize o que tem de mais ostensivo para inflamar a militarização das cidades, tentando ainda manter o monopólio da violência. Torna-se indistinguível o que são as operações locais e operações nacionais, considerando quem são os inimigos, se de fato é uma guerra ou trata-se de um policiamento recorrente. Neste sentido, é difícil estabelecer a diferença entre medidas militarizadas que visam o externo ou o interno espacial do Estado-Nação, pois o que antes eram ferramentas de uso em casos excepcionais de cunho nacional passa a ser transferido para práticas corriqueiras em escalas cotidianas da cidade. A partir deste raciocínio podemos concluir que a ideia da utilização das Forças Armadas para defender o território do Estado-nação está, por enquanto, suspensa. O papel que estas forças possuem se justifica apenas para controle e policiamento interno contra quem a classe dominante definiu como classe perigosa. Cada vez mais se consolida a impossibilidade de grandes guerras entre dois Estados territorialmente soberanos, assim o aparato bélico oriundo dos gastos militares governamentais está disponível para uso do controle e militarização.
Ao concluir esta transferência de direção, práticas de guerras são traduzidas em policiamento e controle social dos indesejados da cidade. “Há uma convergência expressiva de doutrina militar e tecnologias, satélite high-tech e drones desenvolvidos para monitorar inimigos da distante Guerra Fria ou insurgentes que estão sendo cada vez mais usados dentro das cidades ocidentais” escreve Graham. É exatamente nesta perspectiva que o Rio de Janeiro está inserido.
Ainda examinando Cidades Sitiadas de Stephen Graham, é possível ver o argumento do autor de ser necessário assimilar, além do conceito de bumerangue do Foucault mencionado acima, outros quatros eixos principais do que ele mesmo chama de um novo urbanismo militar. O primeiro refere-se à urbanização da segurança, em que técnicas militarizadas precisam ter um alcance minucioso e permanente da vida urbana tanto em espaços amplos quanto na escala da vida cotidiana. Como exemplo, aparecem o controle das redes de transporte coletivo com seguranças portando armas não-letais e câmeras espalhadas por toda malha de tráfego. Como segundo eixo, segue o debate sobre economia política do urbanismo militar. Tratam-se dos mercados possíveis alcançados pelo pensamento militarizante, assim não apenas armas de ponta e tecnologias são vendidas e exportadas mundo afora, mas ideias e práticas já testadas em territórios ocupados, um tipo de campo prisional a céu aberto dentro do centro urbano. Por conseguinte, há o aspecto de disputa da infraestrutura urbana tanto pelas Forças de Segurança do Estado como pelos Grupos Armados não estatais. Como exemplo cita os grupos terroristas que utilizam estações de metrô como ameaça ao país atacado; aviões, caminhões de grande porte em locais de grande concentração no centro urbano. Por fim, chama atenção para a formação de “Soldados-cidadãos”. Neste ponto, trata-se não somente da transferência de armas de uso de guerra para vida civil como também a aplicação da lógica comportamental militar no cotidiano. Como exemplo, cita o uso do GPS, o entretenimento eletrônico e midiático, rede social, etc. Tudo isso, segundo o autor, suscita um tipo de comportamento militarizado popular e generalizado.
Voltando para o Rio de Janeiro, cabe reforçar certas peculiaridades recorrentes na cidade carioca que remetem à militarização do espaço, como a atuação dos grupos armados como o varejo do tráfico e a milícia. Estes são responsáveis pelo controle armado, rigoroso e ostensivo, com domínio territorial nas favelas e bairros periféricos. O varejo do tráfico desde a década de 1970 vem atuando na cidade, principalmente no comércio de drogas em que facções disputam entre elas o monopólio da venda. Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e ADA (Amigos dos Amigos) há anos usam práticas de guerra, com grande poder bélico, na tentativa de eliminar o rival para assim assumir por completo a gerência dos negócios da venda de drogas.
Já a milícia (paramilitares) surge em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro sob justificativa de levar segurança e proteção para os moradores dos bairros. O discurso norteador era trazer segurança para evitar que as facções do varejo de drogas chegassem até as populações destes bairros. Este grupo é formado por policiais e ex-policiais militares e ex-militares das forças armadas, civis e até mesmo ex-traficantes. Os milicianos, ao se estabelecerem territorialmente, começam a explorar atividades econômicas como serviço de abastecimento de gás e água, serviço de transportes através de vans e serviço de TV por assinatura, o chamado “Gatonet”. Desde a década de 1990 que este grupo armado vem ampliando seu poder e expansão territorial pela cidade. Além disso, suas atividades econômicas também se ampliaram, chegando no ramo imobiliário, construção civil, grilagem de terras, cobrança de taxa pelo serviço de segurança e taxa para qualquer ocupação em algum serviço realizado por qualquer um que precise sobreviver diante do colossal desemprego. Atualmente a ação das milícias se complexificou de tal forma que é preciso ter cuidado ao se afirmar que qualquer atividade policial ilícita é configurada como força miliciana.. A novidade é que hoje cada vez mais ex-traficantes têm ingressado nas milícias. Fato que impede, em termos de controle territorial, distinguir pelas práticas quem é miliciano e quem é traficante.
Desta forma, tanto a milícia como o varejo do tráfico são expressões da militarização das cidades para além da “esfera de políticas públicas”, pois também realizam o controle armado, rigoroso e ostensivo com domínio territorial, através de práticas militares. Somado a estes grupos, cabe mencionar os mais históricos, que atuaram por muito tempo na cidade do Rio de Janeiro, como os Esquadrões da morte e os grupos de execução sumária
Não poderia deixar de mencionar as operações das Forças de Segurança do estado (polícias civil e militares), que carregam todos os aspectos da militarização do espaço urbano no Rio de Janeiro. Estas operações têm seu marco simbólico no início da década de 1990, e seu ápice nas Operações Rio I e II. O propósito da intensificação das operações reside no tratamento dado às classes perigosas, que são vistas como inimigas a serem eliminadas pelas operações das forças de segurança, que se utilizam de uma lógica de guerra contra “inimigos” dentro do próprio território. Esta guerra travada pelo Estado através do seu braço armado, que já dura anos, esteve lastreada na Guerra às Drogas. Durante todos esses anos, a guerra às drogas tornou-se a quase única explicação para todo aparato bélico e a produção de mortos resultantes das operações das Forças de Segurança nas favelas e periferias cariocas. Contudo, é possível notar um caráter racista e higienista contra os pobres da cidade, que extrapola a chamada “guerra às drogas”, explicação que é mais admissível tendo em vista o número de pessoas negras assassinadas pelas operações de guerra que persiste há anos. Portanto, nunca foi “metáfora de guerra”, mas uma guerra de fato! Este ponto é importante para destacar a diferentes maneiras que o Estado encontra para perpetuar o controle social através da militarização.
Essas contínuas operações, junto das seguidas intervenções militares, serviram de experiência para a futura ocupação no Haiti pelas forças armadas brasileiras. Posteriormente, esta serviria também de experiência para a ocupação das favelas cariocas para a implementação das UPPs. O Haiti experimentou a militarização por 13 anos, sendo ocupado por militares do exército brasileiro em Missão das Nações Unidas para “estabilização” do Haiti (Minustah), cujo efetivo militar chegou a ser de 1.343 tropas. Por um tempo, chegou a se pensar, através de um discurso oficial, que o Haiti era uma espécie de laboratório para o processo de “pacificação das favelas”, mas este tipo de ocupação já era rotineira nas favelas da cidade do Rio de Janeiro. Afinal, então, quem serviu de experiência para quem?